Simbolismos vanguardistas no cinema
Por Diego Moldes
 |
| Recorde de Fausto, de Alexander Sokurov |
Ao contrário do que se lê em
milhares de livros, o cinema não nasceu em 1895, com os irmãos Lumière, mas em
outubro de 1888, em Leeds, quando Louis Le Prince realizou o primeiro filme da
história. Cento e trinta e seis anos de história cinematográfica se passaram,
portanto. A cinematografia ainda é uma forma de arte jovem em comparação com
outras artes antigas, mas já possui tempo e uma produção vasta, fértil e
diversa o suficiente para afirmar que suas linguagens heterogêneas e seus
períodos de crise e esplendor, de vanguarda e decadência, são maiores do que
aquilo que os historiadores do cinema podem registrar ou conhecer. Estamos
falando de mais de meio milhão de longas-metragens e mais de um milhão de
títulos, se incluirmos curtas e médias-metragens. Ninguém viu nem cinco por
cento dessa produção: em uma longa vida, nenhum pesquisador consegue ver sequer
cinquenta mil filmes. Em outras palavras, desconhecemos mais de noventa e cinco
por cento do cinema mundial. Portanto, toda a nossa visão é inevitavelmente
enviesada.
Nestes textos, tratarei, leitor,
sobre os diferentes simbolismos de vanguarda na história do cinema. Mas, para
fazê-lo adequadamente, precisamos primeiro explicar e definir o que é cinema de
vanguarda, o que é um símbolo e o que é o simbolismo ou simbolismos.
Se considerarmos a vanguarda como
a ruptura, experimental e transgressora, no caso do cinema, existem diversos
movimentos históricos de vanguarda, dependendo da cinematografia nacional que
analisemos. De maneira geral, no cinema ocidental (entendido como cinema
europeu-estadunidense), poderíamos estabelecer três fases: as vanguardas do
período entreguerras (lato sensu 1914-1939, stricto sensu
1919-1939), as do início do cinema moderno (no caso dos novos cinemas europeus,
aproximadamente de 1957 a 1969; no caso do cinema estadunidense, de 1959 a c.
1975, com um período de grande transgressão de 1968 a 1973), e as do cinema de
vanguarda da década de 1990, as do fim do cinema analógico e o início do cinema
digital (de 1993 a c. 2000). Poderiam me perguntar: uma quarta fase poderia ser
adicionada no início do século XXI? Sim, mas não é prudente fazê-lo, pois não
há distância cronológica e cultural suficiente para analisá-lo com critérios históricos.
Um grande filme é quase sempre
vanguardista, pois antecipa formalmente seus contemporâneos. Mas o que é um
grande filme? O que separa um bom filme de um grande filme é a capacidade de
surpreender o espectador, de inovar, de fazer um uso diferente e altamente
desenvolvido da imaginação vanguardista. A imaginação é a chave para contar
histórias e o único elo válido entre a narrativa e a poética, entre a arte do
enredo e a arte poética.
No caso específico do simbolismo
no cinema — isto é, na construção de filmes a partir de uma perspectiva
simbólica, considerando seu enredo, estrutura e discurso a partir do símbolo e
no símbolo — o que devemos esclarecer é o que é a imaginação simbólica no
cinema e em que ela consiste. Só então seremos capazes de distinguir entre um
filme com símbolos, isto é, simbólico, e um filme de símbolos,
isto é, simbolista, coisas bem diferentes. Embora... espere. Você provavelmente
está pensando, caro leitor, o que é um símbolo?
Um símbolo é um tipo de signo em
que a relação entre a coisa (o significante) representada e seu significado (o
que representa) é arbitrária e produto de uma convenção cultural. Esta seria a
definição canônica. Para mim, o símbolo também é uma realidade universal, de
natureza transcendente. Acredito, com René Guénon, que o símbolo é universal,
inconsciente e hierofânico (hierofania: ato de manifestação do sagrado), como
também afirmou Mircea Eliade. Portanto, o símbolo é uma realidade espiritual
que escapa à semântica e à análise visual ou cinematográfica.
Ferdinand de Saussure escreveu o
seguinte sobre o símbolo: “O símbolo tem como característica não ser jamais
completamente arbitrário; ele não está vazio, existe um rudimento de vínculo
natural entre o significante e o significado.” O que era verdade para o símbolo
linguístico é igualmente verdade para o símbolo artístico ou visual e,
portanto, para o cinematográfico. Porque, na realidade, não existe um símbolo
cinematográfico, mas um símbolo apenas: “Os símbolos permanecem símbolos onde
quer que sejam representados”, escreveu-me meu amigo Alejandro Jodorowsky. Isso
significa que o símbolo, em uma obra cinematográfica ou literária, é a
manifestação artística (visual, plástica, fílmica) por meio da imaginação de
uma realidade espiritual. Ou seja, poética.
Bom, a própria definição contém
intrinsecamente dois problemas aparentemente insolúveis. Primeiro, o
reconhecimento das próprias limitações da linguagem escrita: existe a crença de
que a imagem cinematográfica só pode ser plenamente explicada por meio da própria
imagem cinematográfica, ou seja, somente as imagens podem explicar em sua
totalidade — cf. defendido, por exemplo, por Jean-Luc Godard em História(s)
do cinema — as palavras, devido às suas próprias limitações ontológicas,
não conseguem explicar outra realidade intangível (mas descritível) como
é a imagem em movimento. As limitações intrínsecas à linguagem escrita também
são evidentes ao se analisar os símbolos em uma obra de arte. Um símbolo só
pode ser plenamente analisado e explicado por meio de outro(s) símbolo(s). (cf.
Ludwig Wittgenstein no Tractatus
Logico-Philosophicus).
Além disso, “todo símbolo é
reversível”, disse-me Jodorowsky, um conceito presente em todas as mitologias
tradicionais, sejam elas cosmogônicas — da Grécia ou do Gênesis hebraico, por
exemplo, ao Abhidharma budista ou ao Bhagavata Purana do hinduísmo —
teogônicas, antropogênicas, fundacionais ou escatológicas (grande parte da
ficção científica moderna utiliza mitos e símbolos tradicionais para explicar o
fim do mundo).
As narrativas cinematográficas
modernas frequentemente recorrem ao símbolo, integrado em uma ficção não
simbolista, simplesmente para tornar crível o mito (do grego μῦθος, mythos, “relato”, “história”).
Um mito para explicá-lo, contê-lo, torná-lo explícito e relacioná-lo. Uma
relação arbitrária que, no entanto, o espectador, assim como os leitores têm
feito há séculos, compreende rapidamente, uma vez que tal símbolo está inserido
em uma narratologia coerente, isto é, em um relato (mythos). Por
exemplo, um punhal, do tamanho de uma faca, “simboliza o desejo de agressão, a
ameaça não formulada e inconsciente. Servo do instinto da mesma forma que a
espada do espírito, o punhal denota, com seu tamanho, o poder ‘curto’ da
agressão, a falta de visão elevada e autoridade superior”. Dependendo do tipo
de história e do tamanho do punhal, seu simbolismo torna-se reversível, como
nos disse Alejandro. Assim, a faca de cozinha com a qual Norman Bates assassina
Marion Crane em Psicose (1960) não é a mesma faca em Sangue ruim
(1989), ou a faca cerimonial de sacrifício que vemos em antigas culturas
ameríndias, como Apocalypto (2006) explica sobre a cultura maia
iucatecana (a usual era uma faca de sílica, com a qual o sacerdote arrancava o
coração do sacrificado e logo o decapitava). Um símbolo reversível, de símbolo
mortuário a símbolo do sagrado, do divino. Meu caminho não é estruturalista e,
embora tenha lido textos de Lévi-Strauss, minha leitura e visualização do
cinema simbolista não são de forma alguma científicas ou uma exegese da antropologia
estrutural.
A noção de símbolo e cinema
Em 1964, Gilbert Durand publicou A
imaginação simbólica. O livro foi um marco no estudo do simbolismo das
imagens e da imaginação como força motriz e propulsora dos símbolos do
inconsciente expostos em toda obra de arte: "O símbolo é, pois, uma
representação que faz aparecer um sentido secreto; é a epifania de um mistério.”
Mais uma vez, a noção de símbolo está ligada ao misterioso, ao espiritual
oculto que emerge na realidade visível ou sensível. Essa definição de símbolo,
embora incompleta, é perfeitamente aplicável ao cinema se considerarmos que
epifania vem do grego epiphanéia, que significa “aparição” termo-chave
para a compreensão do símbolo no cinema em geral e no filme de terror em
particular, não apenas em sequências de assassinatos ou mutilações, mas também
em todas as ocasiões em que essa aparição parece que vai se materializar e não
se materializa: a ausência da aparição também gera uma tensão psicológica, a da
“não aparição”. Este é o germe do cinema de terror. Durand busca estabelecer
uma definição a priori do que é um símbolo: “signo que remete para um
indizível e invisível significado e, deste modo, sendo obrigado a encarnar
concretamente esta adequação que lhe escapa, e isto através do jogo das
redundâncias míticas, rituais, iconográficas, que corrigem e completam
inesgotavelmente a inadequação”.
Durand também dá importância à
tese sobre o símbolo do pensador Paul Ricœur quando, em A simbólica do mal,
classifica todo símbolo concreto em três dimensões: a cósmica, a onírica e a
poética (no sentido de invisível e inefável). Ricœur define desde o início a
noção inicial de símbolo: “O sonho e seus análogos se inscrevem, assim, numa
região da linguagem que se anuncia como lugar de significações complexas, onde
outro sentido a um só tempo se revela e se oculta num sentido manifesto ou
imediato; chamemos de símbolo essa região de duplo sentido”. E imediatamente a
seguir, Ricœur acrescenta que para ele um símbolo é “a manifestação de algo
mais que vem à tona no sensível — na imaginação, no gesto, no sentimento — a
expressão de um fundo, como a revelação do sagrado, do qual também se pode
dizer que se revela e se oculta”. O cinema simbolista oscila, com sucesso
variável, entre essas dimensões do símbolo, o cósmico, o onírico e o poético. A
tese de Ricœur me parece coerente. E, talvez mais relevante para a nossa compreensão
do símbolo no cinema, Durand estabelece uma classificação, utilizando vários
métodos hermenêuticos, das diferenças entre signo, alegoria e símbolo — o que
Durand chama de os modos de conhecimento indireto. Remeto o leitor a
essas distinções para não confundir termos comumente usados, como signo,
alegoria e símbolo.
Serei guiado mais pela intuição,
pelas leituras acumuladas e pelas repetidas visualizações de filmes, do que
pelo uso de um aparato metodológico preciso. Durante o desenvolvimento da
cinefilia e da crítica, já na era do cinema mudo e ao longo das décadas de 1930
e 1940, mas especialmente após a influência da crítica francesa a partir da década
de 1950, entendia-se que um filme não deveria ser analisado ou julgado apenas
pela perspectiva do objeto em si, mas como o resultado de um processo, inserido
no corpus fílmico de um autor. Desde meados da década de 1990 — com a
disseminação da internet (c. 1994-95) e do formato DVD (desde 1997) — e a
introdução massiva das plataformas VOD (a partir da década de 2010), quando a
política de autor parece ultrapassada e, em muitos aspectos, artificial e
desnecessária, surgiu a possibilidade de assistir a toda a filmografia de um
cineasta de uma só vez, em sequência. As novas tecnologias permitem que
qualquer pessoa acesse quase todos os filmes de um diretor ou roteirista, em
praticamente qualquer hora e lugar. Assim, ao concentrar a visualização de suas
obras em poucos dias ou semanas, a perspectiva muda significativamente.
Deixe-me dar um exemplo. Um
crítico que começou a assistir aos filmes de Hitchcock em 1950 poderia escrever
sobre eles e modificar sua perspectiva ao longo dos anos, assistindo-os uma ou
várias vezes, não muitas, até a aposentadoria do mestre dos mestres. Agora, a
tecnologia nos permite assistir aos cinquenta filmes do gênio inglês inúmeras
vezes. Ou assistir e rever em uma única semana os meros dez longas-metragens
que David Lynch lançou nos seus trinta e cinco anos de atividade. Nossa visão
de um corpus inteiro de filmes muda invariavelmente. Ou deveria. É
verdade que as cinematecas e seus ciclos de exibições já existiam antes, e era
possível assistir a esses filmes uma ou duas vezes. É verdade. Mas não era
possível parar cenas, retroceder ou avançar, congelar a imagem em busca de algo
que nos escapasse ou permanecesse oculto (um símbolo, por exemplo), ou ativar,
quando disponível, as opções de comentários em áudio, nas quais o diretor, o
roteirista, o produtor ou o ator de plantão comentam, com graus variados de
sucesso, as sequências que se desenrolam diante de nossos olhos. Até mesmo
alguns formatos domésticos, tanto o DVD quanto o Blu-ray, permitiram a criação
de ensaios visuais que acompanham e complementam a exibição e a análise de
filmes no âmbito doméstico. E isso abriu opções pedagógicas de uma maneira que
mesmo agora apenas conseguimos vislumbrar.
Em suma, a recepção de obras
cinematográficas mudou. E isso beneficiou os cineastas mais densos ou
reflexivos, aqueles que acreditaram na metafísica e no cinema como meio de
representá-la, empregando tropos, figuras retóricas e, às vezes, até símbolos.
Para o ensaísta, que décadas atrás dependia de sua memória — corretamente
descrita como traiçoeira porque é —, agora tem uma tarefa mais fácil e, ao
mesmo tempo, mais exigente e complexa. Nada é, ou deveria ser, sujeito ao acaso
ou ao capricho, porque, repito, qualquer pessoa pode analisar qualquer filme a
qualquer momento. Para o bem ou para o mal. O que se perde na magia daquela
primeira memória se recupera quando se trata de facilitar nossa análise.
***
***
* Este texto é a tradução de “Simbolismos
vanguardistas en el cine”, publicado aqui, em Jot Down.

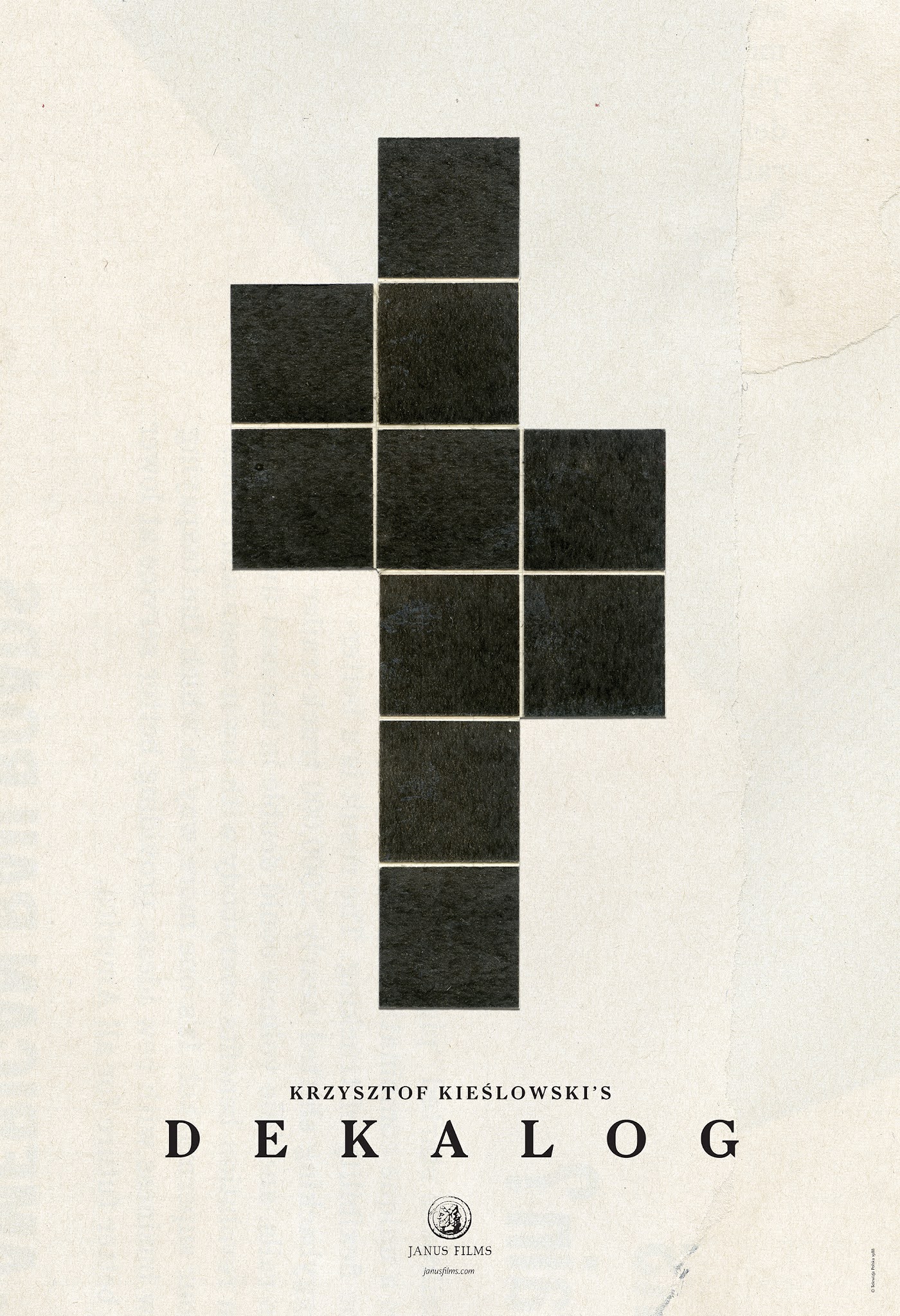



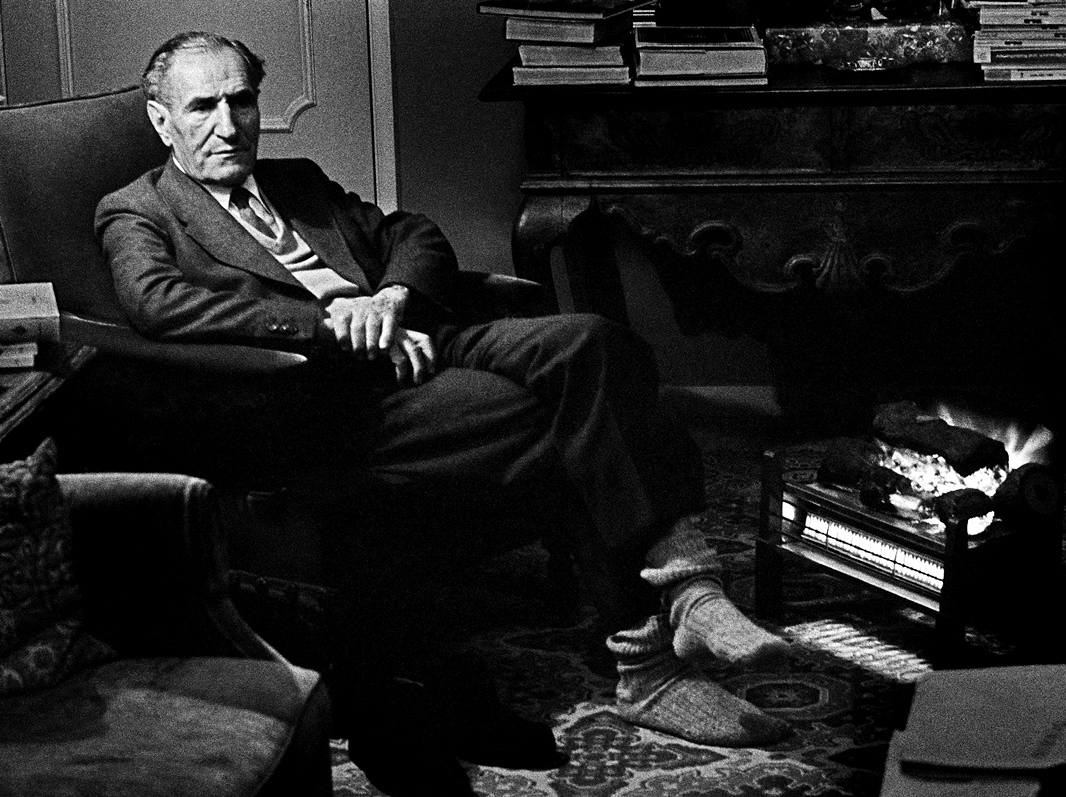
Comentários