Enquanto se dirigem para
Washington D.C., os jornalistas que protagonizam
Guerra civil se veem presos
num tiroteio. Para se protegerem e também para fotografarem e coletarem
informações, eles abandonam o carro atacado e se aproximam de uma dupla de equipados
atiradores rente ao chão. O cenário é um campo decorado com motivos natalinos,
cujo nome remete a um parque temático abandonado: Winter Wonderland [País das
maravilhas de inverno]. Não é apenas a atmosfera surrealista — ou sombria, não
esqueçamos que feiras e parques temáticos estão entre os locais preferidos dos
filmes de terror — que confere uma qualidade memorável à cena. Quando Joe
(Wagner Moura), repórter e motorista do veículo, pergunta aos atiradores a qual
facção eles pertencem, eles não respondem e continuam engajados no combate
contra um atirador protegido em uma mansão próxima. Devido sua insistência,
zombam e dizem que já perceberam que ele é um idiota que não entende que estão
lutando para sobreviver: “Alguém está tentando nos matar e nós estamos tentando
matá-lo”. O fato de a mensagem ser óbvia não atenua a sua contundência: numa
guerra civil não há lados nem oponentes, apenas uma luta pela sobrevivência.
Apesar da sua chamativa anedota e
da sua chocante publicidade,
Guerra civil deve mais à história do que
aos códigos do
blockbuster. A primeira imagem é o rosto desfocado do
Presidente dos Estados Unidos (Nick Offerman), como se a câmera estivesse
focando suas lentes. A abordagem não é gratuita: revela o nervosismo, as
hesitações nos gestos e ademanes, que desmentem o caráter triunfalista do
discurso que ensaia antes de filmar. Em seguida, a elipse nos mostra então Lee
Miller (Kirsten Dunst), uma fotojornalista veterana, que cobriu guerras ao
redor do mundo, em seu quarto de hotel assistindo ao discurso na televisão,
enquanto ouvem-se explosões vindas da rua. Pela manhã, ela e Joe irão ao
Brooklyn em seu veículo de imprensa para testemunhar as manifestações. Impostando
o estilo documental, as imagens captam, do ponto de vista da testemunha, a
violência com que a polícia e posteriormente o exército subjugam os
manifestantes que exigem água. Aí conhecerá uma jovem aspirante a
fotojornalista, Jessie (Cailee Spaeny), a quem salva de um homem-bomba.
Mesmo quando não há uma epígrafe que
resuma os acontecimentos — tema retórico de filmes que também começam
in
medias res, como
Star Wars (Lucas, 1977) ou
Blade Runner
(Scott, 1982) —, o telejornal nos informa que a guerra civil é entre o governo
e os estados leais e as coalizões que o combatem. O espectador deve deduzir que
o país vive uma ditadura fascista já que o presidente está no terceiro mandato,
opção vetada pela Constituição. Porém, o quarteto de protagonistas — além de
Miller, Joe e Jessie, um escritor idoso, obeso e quase inválido, Sammy (Stephen
McKinley Henderson), que escreve “para o que resta do The New York Times” —,
durante sua passagem em direção à capital, onde atravessam zonas controladas
tanto pelo exército como pelos insurgentes, mais do que um conflito ideológico
entre democratas e fascistas, o que percebem e testemunham é a devastação, a
brutalidade e a irracionalidade da guerra.
Poucas horas depois de deixarem o
Brooklyn, eles param em um posto de gasolina na zona rural. Os proprietários,
armados e hostis, recusam-se a vender-lhes gasolina. Enquanto Lee negocia com
eles, a intrometida Jessie descobrirá alguns prisioneiros. O mais novo da
gangue lhe dirá que o mais visivelmente torturado foi seu colega de escola, mas
que não falava com ele. Depois de um golpe e de ouvir seus gemidos, conclui
sarcasticamente: “Agora ele fala mais comigo”. O conhecido tema da desumanidade
com que os alemães trataram os seus companheiros judeus e vizinhos sob o
nazismo se insinua como se o tema de uma sinfonia. E, claro, o do
ressentimento, o combustível que inflama os corações populistas.
Esta associação não é o pedantismo
do crítico. As referências históricas temperam a chave para a compreensão da
proposta cinematográfica. Mais do que uma alegoria da polarização política e
social estadunidense — que, infelizmente, os brasileiros partilham —, alerta
para os perigos que as democracias enfrentam. No vestíbulo do hotel abarrotado
de jornalistas — homenagem a uma cena de
Bem-vindo a Sarajevo
(1997), de Michael Winterbottom, que mostrava como os antigos vizinhos se
tornaram inimigos ferrenhos —, Sammy conta a Lee e Joe que sua intenção de
entrevistar e fotografar o presidente lembra a corrida até Berlim; uma alusão à
competição travada pelos generais soviéticos Georgy Zhukov e Ivan Konev para
ser os primeiros a chegar à capital do Terceiro Reich e capturar Adolf Hitler.
Neste caso, a corrida é entre diferentes forças da oposição que disputam qual
será a primeira a derrubar o ditador americano.
A conjunção de forças que cerca o
presidente lembra a dos aliados contra o eixo fascista. A este respeito, uma
das censuras mais frequentes à história tem sido a improvável coalizão entre a
Califórnia e o Texas, devido ao seu antagonismo ideológico. A favor desta
decisão caberia recordar que a aliança entre a União Soviética e os Estados
Unidos durante a Segunda Guerra Mundial era igualmente improvável. Que se trata
de uma leitura do fascismo e não da crônica de uma conflagração isso também é
indicado pelo nome da fotojornalista, Lee Miller, um aceno e homenagem à modelo
e fotógrafa que, além de captar o horror do Holocausto com suas fotografias do
extermínio e seus testemunhos da crueldade fascista foi a primeira
fotojornalista. Outra pista: Sammy lembra a Joe, que considera que entrevistar
o presidente é a história mais relevante, que no final todos os ditadores,
sejam eles Gaddafi, Mussolini ou Ceaușescu, acabam por ser personagens
irrelevantes. O referido trio também é importante e prenuncia o desenlace da
narrativa fílmica.
Alex Garland, autor de romances e
roteiros que sustentaram filmes notáveis
— incluindo
Extermínio e sua sequ
ência
(Danny Boyle, 2002 e 2007, respectivamente), cujos cen
ários e violentos
acontecimentos parecem precursores de
Guerra civil — e ele pr
óprio um l
úcido cineasta
fantacient
ífico
— Ex Máquina (2014) e
Aniquilação
(2018)
—, oferece um registro veross
ímil da guerra, demonstrando suas atrocidades e a aus
ência de
ética: o ex
ército n
ão respeita a imunidade da imprensa, mas os revoltosos executam
seus prisioneiros desarmados com metralhadora e não hesitam em assassinar a
porta-voz presidencial, apesar de ela ter se rendido. Outro detalhe é a
negação, a ignorância voluntária, como aconteceu com a nação alemã durante a
noite do nazismo. Os viajantes chegam a uma pequena cidade onde não parece
haver vestígios da tragédia — a indiferente funcionária da loja de roupas em
que entram responderá que estão cientes do conflito, mas preferem ficar de fora
— e as duas fotógrafas compartilham pais comuns que se refugiaram em suas
fazendas para fugir dos acontecimentos.
Com memoráveis
sequ
ências de
guerra que superam a pulso trepidante de
Falcão negro em perigo (Scott,
2001) e
Guerra ao terror (Bigelow, 2009) e um ponto de vista que
transmite fielmente a carnificina impiedosa, como ocorreu em
O resgate do soldado
Ryan (Spielberg, 1998), a encena
ção
é magistral. A edi
ção sonora
contribui para o seu efeito perturbador, transformando a expectativa numa
experi
ência n
ão s
ó visual, mas tamb
ém auditiva. A
partir do momento em que Miller assiste televis
ão em seu
quarto de hotel enquanto se ouvem explosões na rua, as refegas, os rugidos, os
bombardeios trovejam na tela e induzem no espectador o choque que os
personagens sofrem. O contraponto adequado à narrativa é a trilha sonora; desde
o início, a esotérica peça “Lovefingers” de Silver Apples situa perfeitamente o
clima emocional com seus acordes estridentes e alienados, precursores da
eletrônica
lo-fi, e alguns versos que oferecem um irônico comentário sobre
as cenas de violência; por outro lado, o fraseado nervoso de Alan Vega
pontuando os acordes ásperos e impacientes é ideal para transmitir a veemência
e a desordem da narrativa.
Testemunho da demência suscitada
pela guerra, mas também pelo fanatismo ideológico,
Guerra civil poderia
se tornar
O franco-atirador (Cimino, 1978) e o
Apocalipse now
(Coppola, 1979) da era da pós-verdade e da ascensão do populismo. Chego
inclusive a encontrar paralelos entre a presença shakespeariana de Marlon
Brando no papel do Coronel Kurtz e a atuação de Jesse Plemons — que não está registrado
no elenco, embora todos o reconheçamos — nos cinco minutos mais atrozes do
cinema desde que Leatherface confrontara no trailer e perseguira os
sobreviventes no final de
O massacre da serra elétrica (Hopper, 1974).
Como um soldado que empilha cadáveres numa vala comum, com seus irônicos óculos
de lentes escuras e seu laconicismo (“Que tipo de americanos são vocês?”, o bordão
do filme, remete a uma canção popular usada pelo exército norte-americano
durante a Primeira Guerra Mundial), é mais arrepiante do que qualquer monstro
porque mata os companheiros dos protagonistas a sangue frio. A negligente psicose
do crime.
Embora a escolha de uma estética
eficaz semelhante ao
grand guignol de Oliver Stone em suas polêmicas
produções (
Nascido em 4 de julho, 1989, por exemplo), embora sem suas grosseiras
antinomias, indica uma posição antibélica, Garland é mais que um ativista panfletário,
é um pessimista cínico. Após a comoção de Jessie com o sadismo presenciado no
posto de gasolina, Lee relembra que o jornalismo proscreve a identificação,
você deve se alienar de suas emoções para realizar os registros; por isso no
final a estreante mostrará sua maturidade profissional, mesmo que isso nos pareça
egoísta e insensível.
Um sector de crítica —
curiosamente de revistas e jornais imersos na discussão política:
Time,
The
New York Post,
The Wall Street Journal —, criticou
Guerra Civil
por considerá-la morna e apolítica e até covarde por não tomar posição. A favor
da sua perspectiva, defendo que embora pelas condições do país pareça uma
ficção política instrutiva, na realidade a anedota é um pretexto. Como mostram
sua filmografia e seus romances, o diretor tem uma visão niilista da natureza
humana.
As estradas repletas de veículos
abandonados, as cenas de pânico, os edifícios e cidades devastados e
despovoados lembram um filme de zumbis, e a associação com
Extermínio
(2002), filmado por Danny Boyle mas escrito por Garland, é inevitável. E talvez
a reminiscência não seja tão superficial, os personagens agem como se um vírus
os tivesse perturbado a ponto de impossibilitar a simpatia e a identificação
com aqueles que há poucos meses se reconheciam como compatriotas e pares. Para
quem exige uma tese e um posicionamento, isso é mais do que evidente: o
populismo acaba por transformar os cidadãos em inimigos irreconciliáveis
onde nenhum lado
é melhor que o outro. O fato de todos os militares usarem o
uniforme militar, independentemente de pertencerem ao ex
ército ou
às mil
ícias rebeldes, o que faz com que em
diversas ocasi
ões os protagonistas n
ão saibam distingui-los, ratifica essa inten
ção.
O final tem muito do humor negro
que impregna o filme desde o início. A imagem final é um remate digno para um
filme cujos protagonistas são repórteres de guerra e a subtrama principal é a
relação entre professora e discípula. Se os primeiros segundos mostravam o
rosto desfocado do presidente diante das câmeras, como se o olhar narrativo não
conseguisse focar, nos últimos segundos veremos como um negativo se fixa numa
fotografia. Uma vez concluída a jornada que cada história envolve, a visão se
torna clara.
Não há dignidade na guerra, nem no
melhor emprego do mundo. Miller diz a Jessie que nunca pensou que relataria um
distúrbio semelhante em sua pátria. Considerava seu trabalho uma carta de
advertência para o seu país. Com a guerra interna, descobriu que esse esforço
não adiantou nada, não alertou suficientemente nem impediu a incubação do ovo da
serpente. Afetada pelo estresse pós-traumático, ela trairá sua própria profissão-de-fé
profissional e, no meio da batalha, ficará incapaz de realizar fotos. A sua
discípula, pelo contrário, ao concluir o percurso iniciático que constitui a
veia
road movie deste filme, terá endurecido. O projeto e o desenlace
são totalmente coerentes. A fotografia evoca o fim de Mussolini, o fascista que
Donald Trump admitiu admirar, listado por Sammy ao lado de Gaddafi e Nicolae
Ceaușescu, que foram executados enquanto tentavam escapar. A banalidade com que
o velho jornalista descreveu os ditadores nos seus momentos finais resume-se na
última frase do presidente encurralado: “Diga-lhes para não me matarem!”, pede
a Joe, que lhe pediu uma declaração.
Mais eficaz e radical do que se
tivesse adotado a retórica sentimental e previsível de uma obra ostensivamente
liberal,
Guerra civil é uma lição sobre como abalar as consciências numa
época em que nenhum horror parece nos comover. Se Jonathan Glazer escolheu, em
A
zona de interesse (2023), a perspectiva dos perpetradores para renovar a
atrocidade do nazismo e despertar a náusea moral que as visões complacentes e
triviais do Holocausto haviam atenuado, Garland, com sua visão amarga, ao negar
os dogmas do humanismo, obriga-nos a confrontar os demônios criados tanto por
políticos insanos como por cidadãos degradados. É por isso que muitos liberais
não gostaram: porque não justifica a arrogância moral nem apazigua a autoindulgência.



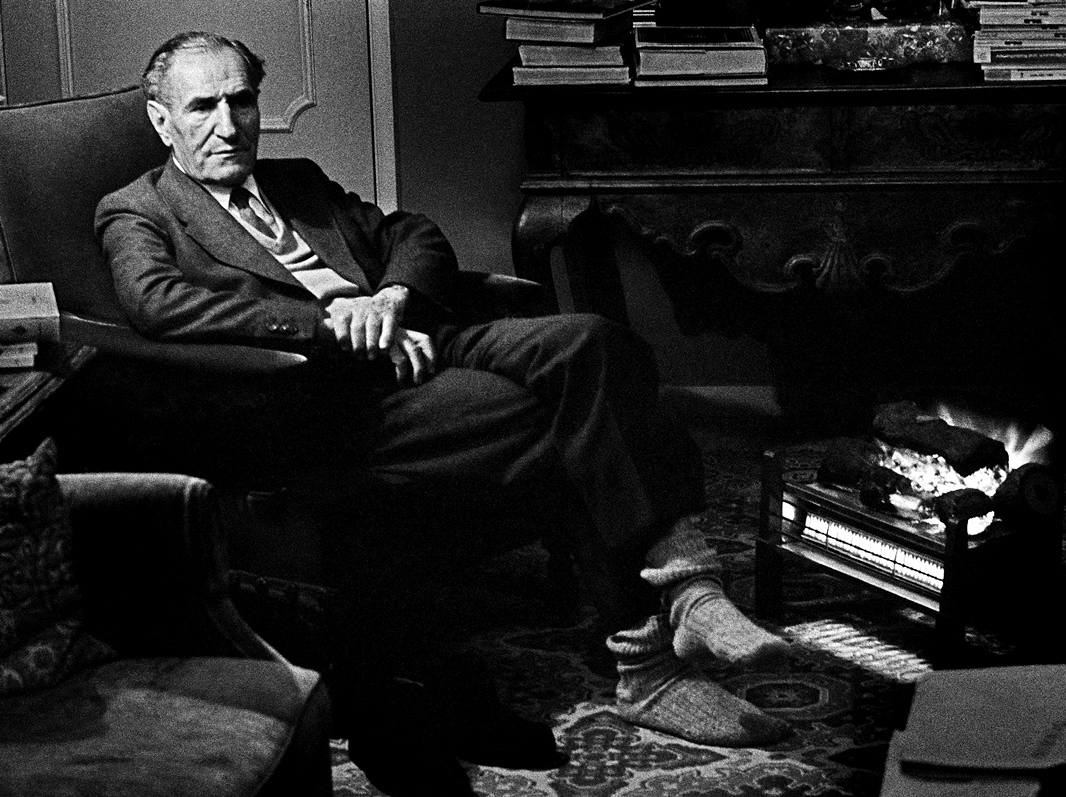
.jpg)


Comentários