Por Amanda Fievet Marques
 |
| Théodore Chasseriau. Retrato de La Rochefoucauld (detalhe) |
Este ensaio surge da vontade de
analisar a obra de um escritor que se vale da utilização de um tipo específico
de discurso, que é a máxima moral. Por meio dela, ele perscruta com
desconfiança as aparências e realiza um escrutínio dos valores e da conduta
humana, é ele o aristocrata francês do século XVII, François, duque de La
Rochefoucauld (1613-1680).
Parto de uma suspeita
compartilhada por La Rochefoucauld e por diversos moralistas, a de que por trás
das aparências da virtude se ocultam motivações menos nobres, muitas vezes
enraizadas no amor-próprio e na busca pelo prestígio.
Longe de constituir apenas um
estilo aforístico ou um recurso retórico elegante, a máxima moral, tal como
cultivada por La Rochefoucauld, opera como um dispositivo filosófico de
crítica, uma forma breve, mas contundente, que desmonta a virtude como valor
absoluto e revela suas contradições.
Édith Mora (1965) descarta as
hipóteses interpretativas que assumem que a vida de La Rochefoucauld tenha sido
dividida respectivamente em duas vertentes, correspondentes ora à primeira fase
de sua vida, do homem de espada, do espadachim, combatente na Fronda, ora à
segunda fase de sua vida, do escritor, do recluso autor das máximas publicadas
em 1665. Para ela, o duque não trocou o campo de batalha pela biblioteca, mas
escreve com a espada, por meio de uma “escrita-lâmina” (Mora, 1965, p. 39), tão
cortante quanto possível.
A máxima, em sua forma lapidar,
torna-se o meio privilegiado por La Rochefoucauld para desestabilizar os
discursos edificantes da moral tradicional. A virtude, longe de ser negada
frontalmente, é antes revelada como aparência cuidadosamente fabricada, e, nesse
gesto, perde sua aura de pureza.
Quanto à máxima, propriamente,
Serge Meleuc (1969) propõe no artigo “Structure de la máxime”, que se trata de
um tipo específico de discurso literário formado por dois aspectos. O primeiro
aspecto da máxima é que ela “enuncia um universal a respeito do homem” (p. 69);
o segundo, é o ensinamento, pois se trata, segundo ele, de um discurso “tipicamente
didático” (p. 69).1 Enfim, enquanto tipo de discurso, ele o define,
linguisticamente, pela estrutura “enunciado do leitor + negação” (p. 96).
Segundo André-Alain Morello (1992),
a eliminação da enunciação produz a impressão de uma voz misteriosa, que seria
responsável, na verdade, não por um didatismo, mas pela obscuridade. Por isso,
é preciso falar, a respeito da máxima, de uma “estética do inacabamento
voluntário” (p. 114), à qual se articulam a ironia, a sátira, o paradoxo.
Morello também põe o problema da
imperatividade da máxima. Segundo ele, raramente ela enuncia leis ou regras, e
procura, de fato, definir. No caso da epígrafe escolhida por La Rochefoucauld
para a quarta edição do seu livro – “Nossas virtudes não são, muitas vezes, senão
vícios disfarçados.” –, ela se apresenta como um dos modelos da máxima.2
Para Jean-Pierre Beaujot (1984), a
própria estrutura dessa definição provoca um efeito de leitura bem distinto do
de um simples dicionário: “À diferença do discurso lexicográfico […], a máxima
é insular; enquanto a definição permite ir do conhecido ao não-conhecido, a
máxima-definição é surpreendente e suficiente” (p. 98-99, grifos do
autor).
As múltiplas camadas na obra de
La Rochefoucauld
Há que se considerar também o
contexto da obra de La Rochefoucauld, situada entre o jansenismo e a ideologia
aristocrática da honra. Essa tensão, como indicam comentadores como Jean Lafond
e Louis Hippeau, confere à moral das máximas complexidade, pois ela não oferece
um sistema, mas um espelho fragmentado onde o ser humano se reflete em sua ambiguidade.
A primeira leitura, e a que é
predominante é a jansenista, que destaca uma alegada herança agostiniana no
autor das máximas. Na tradição literária francesa, considera-se La
Rochefoucauld “o descobridor” da máxima que é o “meio de expressão flexível o
bastante para servir a todas as necessidades da literatura moral (Lafond, 1978,
p. 168). Depois, perpetuada por La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Joubert, até
Paul Valéry, Pierre Reverdy e Cioran, a máxima tornou-se “a forma privilegiada
dos moralistas” (idem).
No artigo “La Rochefoucauld, d’une
culture à l’autre”, Jean Lafond, enfatiza a leitura jansenista de La
Rochefoucald, demonstrando que há uma tensão interna em sua obra, entre a
ideologia nobre, aristocrática e o agostinismo. A ideologia nobre se expressa
pelo “desprezo ostentado pela moderação, a mediocridade, a ausência de vontade,
a incapacidade de sustentar o nome que se porta” (ibid., p. 157).
Desse ponto de vista, a máxima n.
308, que apresenta a virtude como algo limitador é exemplar: “Fez-se da
moderação uma virtude para limitar a ambição dos grandes homens, e para
consolar as pessoas medíocres de seu infortúnio, e de sua falta de mérito.”3
Nela, La Rochefoucauld apresenta uma visão negativa da virtude em sua forma
moderada, e afirma que a contenção impede os grandes de se destacarem, ao mesmo
tempo que isenta os indivíduos das dificuldades associadas aos vícios. A
virtude aparece como uma força limitadora, impedindo a intensidade da
experiência.
Já o agostinismo na obra de La
Rochefoucauld se exprime, segundo Lafond (1978) por três temas. Primeiro, a
desvalorização radical das virtudes “humanas” (p. 158); segundo, a importância
atribuída ao coração em oposição ao espírito (p. 159); e, terceiro, a igualdade
das grandezas e valores humanos (idem). Essa tensão, confere às máximas
uma “abertura que é mantida pelo acolhimento de discursos diversos,
provenientes de matrizes culturais distintas” (p. 167).
Jean Lafond é também o editor e
comentador da edição das Máximas na coleção Folio, da Gallimard. Em sua anotação,
ele ressalta duas direções essenciais na moral de La Rochefocauld: a
onipresença do amor-próprio, e a obrigação de superar o amor-próprio para
alcançar um sentimento autêntico (apud La Rochefoucauld, 2012, p. 33).
Em contrapartida, no livro Essai
sur la morale de La Rochefoucauld, Louis Hippeau (1967) apresenta a tese de
que o autor teria se inspirado não nos jansenistas, mas em Montaigne para
edificar sua moral (cf. p. 12). Além disso, para este comentador, La
Rochefoucauld não é um mero negador da virtude. Ele negaria a virtude estoica,
em nome de um outro tipo de virtude, inspirada no epicurismo, e que também se
encontra nos Ensaios de Montaigne. La Rochefoucauld parte da noção de
“falsidades disfarçadas [faussetés déguisées]” para definir uma virtude
relativa e confiar à “prudência” dos epicurianos um papel original de temperar
os vícios e virtudes (cf. p. 92). No capítulo 4, em que confronta La
Rochefoucauld aos jansenistas, Hippeau conclui: “ele não era nem jansenista nem
sequer cristão” (p. 120).
A tensão entre a ideologia
aristocrática e o agostinismo, que confere à obra de La Rochefoucauld uma
abertura interpretativa singular, encontra na máxima moral o seu meio de
expressão privilegiado. É justamente pela brevidade da forma que se torna
possível articular a desconfiança em relação à virtude e realizar o
desmascaramento das motivações humanas.
Para André-Alain Morello (1992), a
obra de La Rochefoucauld é, portanto, polissêmica. Composta por diferentes
camadas, estratos, é desses sedimentos tão diferentes entre si que provém a
ambiguidade das Máximas: “O autor, em virtude dessa estética da
negligência que é a sua, estética toda aristocrática, […] talvez nem sequer se
ponha o problema de saber se esses discursos são coerentes entre si” p. 125).
A virtude sob suspeita
O alvo principal de La
Rochefoucauld, em todo caso, é a hipocrisia generalizada que reina na sociedade
da corte. A escrita-lâmina se erige, assim, num duelo à hipocrisia. Para o
autor, é o amor-próprio que se manifesta através dos vícios e paixões, é ele
que se encontra disfarçado nos vícios e virtudes, e é ele que assume a máscara
da virtude, de todas as virtudes. Desse modo, a virtude é apenas um
desdobramento da vaidade: “A virtude não iria tão longe se a vaidade não lhe
fizesse companhia” (máxima n. 200).4 La Rochefoucauld vê a virtude
como uma impostura do orgulho, sugerindo que sua busca só é possível porque a
vaidade a alimenta e a impulsiona. Assim, a hipocrisia, a atuação constante
tornada hábito, constituem uma segunda natureza do homem, para quem a máscara
já se incrustou no rosto.
Nesse sentido, a virtude é algo
intrinsecamente ambíguo: “A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à
virtude” (máxima n. 218).5 La Rochefoucauld demonstra que a virtude
pode carregar um aspecto duvidoso ou desagradável. Ele vê a hipocrisia como um
tributo ao prestígio da virtude, mas que revela sua instrumentalização pelo
vício. A virtude é posta em xeque, seja por sua fragilidade frente à
hipocrisia, seja por sua possível insinceridade.
Com suas máximas laminares, La
Rochefoucauld esquadrinha as imperfeições humanas e suas motivações. A análise
de sua obra revela como ele questiona as noções tradicionais de virtude, ao
demonstrar que a natureza humana é marcada pela contradição, pelo egoísmo e
pela hipocrisia — o que, na sociedade de máscaras e da busca constante pelo
prestígio iminente em que vivemos é não só atual, como extremamente necessário.
Do embate levado a cabo por La Rochefoucauld, é o próprio discurso filosófico
moral que se vê desestabilizado pelas máximas. Paradoxais, elas recusam
qualquer assunção edificante, assim como esmeradamente desfazem qualquer
certeza ética.
Notas
1 Todas as traduções neste texto são
nossas.
2 “Nos vertus ne sont, le plus
souvent, que des vices déguisés.”
3 “On a fait une vertu de la
modération pour borner l’ambition des grands hommes, et pour consoler les gens
médiocres de leur peu de fortune, et de leur peu de mérite.”
4 “La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie.”
5 “L’hypocrisie est un hommage que le vice rend a la vertu.”
Referências
BEAUJOT, Jean-Pierre. Le travail de la définition dans quelques maximes de
La Rochefoucauld. In: Les Formes brèves de la prose et le discours
discontinu. Paris: Librarie Vrin, 1984, p. 98-99.
HIPPEAU, Louis. Essai sur la morale de La Rochefoucauld. Paris: Éditions A.-G. Nizet, 1967.
LA ROCHEFOUCAULD, François de. Maximes.
Paris: Gallimard, 2012.
LAFOND, Jean. La Rochefoucauld, d'une culture à l'autre. In: Cahiers
de l'Association internationale des études francaises, n. 30, 1978, p.
155-169.
MELEUC, Serge. Structure de la maxime. In: Langages, ano 4, n. 13,
1969, p. 69-99.
MORA, Édith. François de la Rochefoucauld. Paris: Seghers, 1965.
MORELLO, André-Alain. Moralistes du XVII siècle. Édition établie
sous la direction de Jean Lafond. Paris: Robert Laffont, 1992.


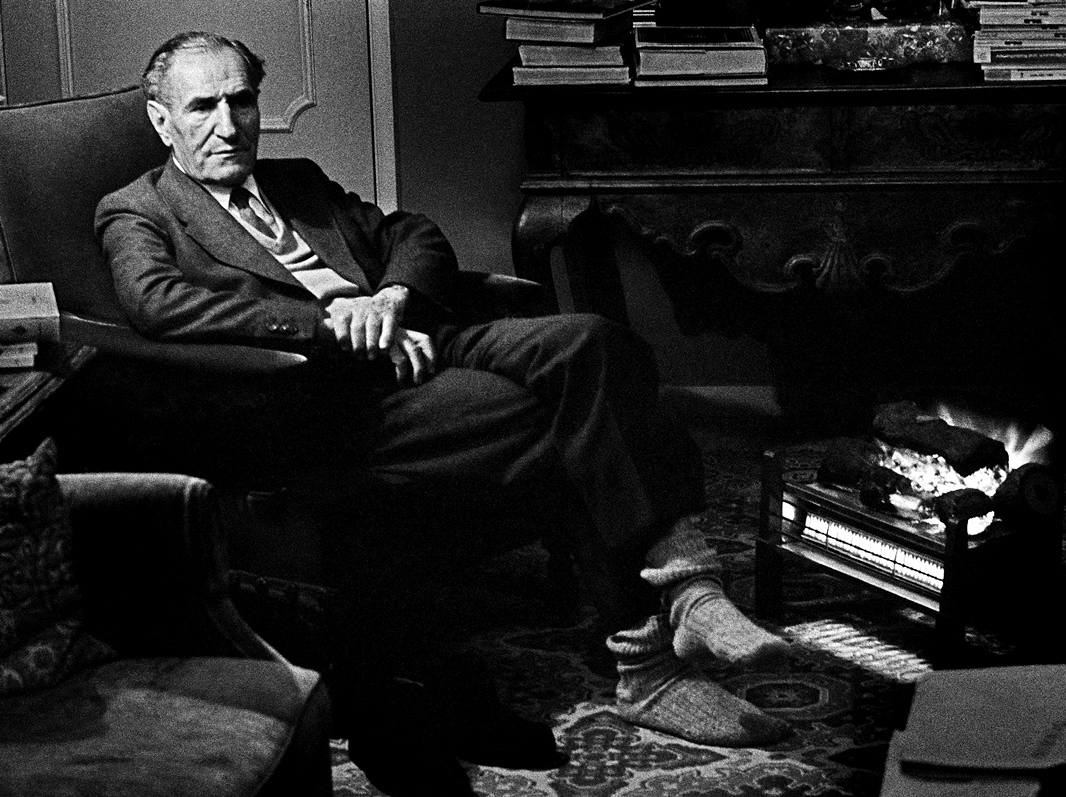




Comentários