Linguagem do eterno – aproximações ao ritmo do Livro do Desassossego
Por Lucas Miyazaki Brancucci
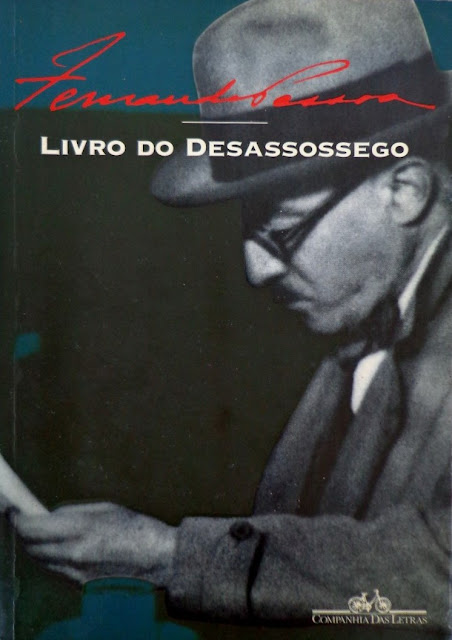
Estar na
tensão entre os corpos, “intervalar”, habitar interstícios, “espaço entre mim e
mim”, “sentir tudo de todas as maneiras” desdobrando-se a múltiplas conexões
com o mundo, constituem movimentos primordiais no Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa (utilizamos neste texto a
edição organizada por Richard Zenith. São Paulo: Companhia das Letras, 2011).
Sob a condição de um “sonhar sempre”, fluxo de escrita, esses movimentos giram
em torno da própria língua, seu fim, articulados pelo ritmo da voz de Bernardo
Soares – heterônimo (ou semi-heterônimo, ou semi-ortônimo) de Fernando Pessoa –
evocada para compor essa escrita “interminável”.
No Livro do Desassossego, escrever é um ato
(e pacto) para habitar o mundo e constantemente modificá-lo, levar ao extremo a
“sede de ser completo”, o corpo em circuito com o externo; é criar o espaço
possível para esse “lugar ativo de sensações, a minha alma” (do fragmento [fr.]
219) – a “minha voz”, poderíamos dizer. Lugar da voz, atravessada pelo
movimento da escrita que o Pessoa-Soares reconhece como “passiva associação de
ideias” (ibid), recolhidas desde a “alta literatura”, Homero, Shakespeare,
Vieira, até os ruídos, cacos e lixos das ruelas de Lisboa. Lugar de estar em
condição de “transmutação” e “de incongruência com os outros” (fr.71),
deixar-se fascinar pela voz alheia pois “Leio e sou liberto […] Deixei de ser
eu e disperso”, e não pelos “trechos que tantas vezes parecem ser a voz do que
eu penso”. Podemos, inclusive, pensar essa voz inserida numa lógica
“eu-devir-outro”, aproximando-se do perspectivismo ameríndio: “Tudo em mim é a
tendência de para ser a seguir outra coisa […] Tudo me interessa e nada me
pertence” (fr.10), “Comigo estão os outros” (fr.59), “vou falar e falo
eu-outro” (fr.215). E que não raro é tomada por um susto e estranheza ao
escutar-se: “muitas vezes o que descubro em mim me desola, me envergonha […] e
me assusta” (“Via láctea”). Ou alumbramento:
“Escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre
tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente
tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de
dizerem-se de milhares de vidas […] Aqui, eu, neste quarto andar, a interpelar
a vida! a dizer que as almas sentem!” (fr.6)
Silvina
Rodrigues Lopes, em ensaio sobre o Livro,
aponta para um “mundo como jogo de forças em permanente devir de formas” (1988, p. 61-67), latente na
escrita que flui de Soares. A experiência contínua de escrever-se é afirmada
quase a todo instante, como que reforçando uma metalinguagem-expressa na
literatura; é uma das forças que mantém viva e peculiar a “obra”, o “livro”, a
voz desse escritor, e a ligação com o possível leitor – pois este (nós) também
pactua com o “escrever” e insere-se, à medida que frequenta os fragmentos,
nesse devir do corpo, “local de sensações” atravessado pela voz – que às vezes
não passa de “uma figura de romance por escrever, passando aérea, e desfeita
sem ter sentido, entre os sonhos de quem me não soube completar”, “sonho entre
sonhos”. O sonho, o qual podemos pensar como imagem ao “devir de formas”, é
muitas vezes um pesadelo, o “desassossego” do título: “Quero que a leitura
deste livro vos deixe a impressão de terdes atravessado um pesadelo voluptuoso”
(fr.215), mas que, nesse sentido, nada têm de mórbido, pessimista ou niilista.
Ao
contrário, a inquietude pode vir justamente do ímpeto de “viver a vida em
extremo” (fr.124), e estar nas relações conflitantes entre, por exemplo: uma
persistente atenção ao estar vivo, que é constatação de um fluxo de linguagem
eterno em simbiose com o(s) mundo(s), e uma modernidade que chegou ao extremo
da individuação e coisificação, da imposição de um logos na voz, lembrando de
Adriana Cavarero (2011), que cala e força os sujeitos a criarem identidades,
barreiras entre si ao se cruzarem nas metrópoles. A escrita de Soares seria
algo que escapa dessa lógica, como a esgrima que abre fendas, de Baudelaire –
“Exercerei a sós a minha estranha esgrima… / Tropeçando em palavras como nas
calçadas, / Topando imagens desde há muito já sonhadas...” (2012, p.307).
No
fragmento 262 Bernardo Soares diz, “Penso sempre, sinto sempre”, (sem haver
nisso uma celebração); “Minha alma é um maelstrom negro, vasta vertigem à roda
de vácuo, movimento de um oceano infinito em torno de um buraco em nada […] e
eu, verdadeiramente eu, sou o centro que não há nisto senão uma geometria do
abismo”.
Vamos nos
focar mais, então, à dinâmica dessa “geometria do abismo”, sonho em devir, para
nos aproximar à “organização subjetiva do discurso”, “manifestação de uma
corporeidade” na linguagem (2006, p.17 e 18), portanto ao ritmo do Livro. Como essa escritura se nos emerge
na experiência de leitura.
O “livro” é
um conjunto de fragmentos, ou melhor, proliferação de fragmentos, ainda
contemporâneos a nós, com seus recentes achados. No estudo “O Livro do Desassossego: Uma prateleira de
frascos vazios” Caio Gagliardi afirma: “Não é simples definir um tema para o Livro, porque não se trata de um 'livro'
na acepção corrente do termo […] Por isso, o que hoje entendemos como Livro do Desassossego é, em parte, obra
de seus organizadores”. Seu corpus literário, ou possível gênero, está, pois, deslocado
do habitat tradicional da literatura, no qual tenderia a conceber uma obra
“acabada” como um instrumento-objeto, e a linguagem, como forma de representar,
que levaria o leitor a determinada “expressão” dum sentimento.
Observando
as características desse estilo de escrita, de rítmica prosaica e contínua,
podemos ensaiar que Fernando Pessoa tenha visto nessa poética uma libertação
para trazer a voz de um mundo latente em si, o Bernardo Soares, dissociado das
concepções correntes de literatura, mas cujos versos da “poesia” tradicional já
não davam conta de evocar. E aqui não estamos a sós: Leyla Perrone-Moisés, em
“A prosa do Desassossego”, atenta ao fato de que a “experiência de Bernardo
Soares […] revela uma inquietação, um descontentamento com as formas
tradicionais de poesia, exatamente aquela que, sob vários nomes, Pessoa
praticava concomitantemente” (2001, p.229) Pessoa-Soares vai encontrar nessa
prosa fragmentária “a busca de novos ritmos” (ibid, p.230). Ritmos mais
libertos.
No fragmento
227, Soares escreve sobre sua escrita, “metalinguagem desnuda”, e enfatiza a
prosa como condição à “palavra livre”, potência rítmica para transformação: “Na
prosa se engloba toda a arte – em parte porque na palavra se contém todo o
mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possibilidade de o
dizer e pensar. Na prosa damos tudo por transposição”. A cor e a forma da
pintura, o ritmo da música, a estrutura da arquitetura, na prosa “nós erguemos
em ritmos, em indecisões, em decursos e fluidezas”.
Vê nos
versos, em contra partida, uma certa natureza limitada, uma “servidão” a que o
poeta ficaria submetido; há uma “crítica à poesia tradicional”(ibid, p.228), e
tal tradicionalismo não escapara de grande parte da concepção estética do
próprio autor e seus heterônimos, cujas obras são colocadas pela crítica ao
lado de nomes como Sá de Miranda e Camões (ibid, p.229). O que não quer dizer,
fique claro, que a múltipla poesia de Pessoa só permita uma leitura
tradicional.
Mas
justamente devido a essa negação à “poesia”, análoga à “crise de verso”
detectada por Mallarmé (ibid), Pessoa, no L. do D., almeja aproximar-se ao que
seria mais propriamente um “poema”. E aqui o penso nas reflexões de Henri
Meschonnic, quando reivindica “um lugar para poemas” que emerjam sob uma
necessidade “de fazer sair uma palavra sufocada pelo poder dos conformismos
literários”; e contra a “asfixia” de uma concepção que se tem de “poesia”. A
noção de poema que “transforma os modos de ver, de ouvir, de sentir, de
compreender, de dizer...”; não como um “produto”, mas uma “atividade”, a
construir o sujeito sob uma posição passiva-ativa, pois lança-o ao “momento de
uma escuta”, cf. Henri Meschonnic (2015).
E estar “à
escuta” desses fragmentos é lançar-se ao mundo radicalmente pela língua: os
textos giram em torno dos mais variados temas, com estilos mais próximos ora do
ensaio filosófico, ora da “lírica”, ou do diário, narrativa ou crônica, mas
todos sob o eixo do poema: discurso em sua potência. E sobre esse fato, o
escritor assume posição clara:
Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrear. As
palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades
incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim de nenhuma
espécie […], transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos
verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho,
tal página de Chauteaubriand, fazem formigar toda minha vida em todas as veias,
fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo…
(fr.259)
Na escrita
do Livro o “meio se transforma em fim”, as “palavras e as frases, em sua
materialidade de som e ritmo, comandam o sentido do discurso” (PERRONE-MOISÉS,
2001, p.268). Por isso, enquanto Soares está a filosofar, a sentir paisagens, a
recolher restos e ruídos da rua, nós estamos à escuta de eroticidades da língua
– fazem formigar toda minha vida em todas as veias.
Há diversos
fragmentos sublimes sob esse aspecto, de invenções com a língua portuguesa e
oralidades de escrita do mais alto grau, que por isso já foram comparados à
escrita de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Tomemos para análise, dentre
muitos possíveis, o fragmento 458 (leia aqui).
Escrevendo
um amanhecer de Lisboa, liga as palavras pela sonoridade e assimilações
metafóricas, compondo uma paisagem delirante e onírica da “Baixa”; “No nevoeiro
leve da manhã de meia primavera, a Baixa desperta entorpecida e o sol nasce
como que lento”. E enquanto, “sensivelmente, as ruas desdesertam-se”, súbito
rotaciona as imagens à “realidade cotidiana”, que lançam-lhe à lunática (e
abismal) atenção ao existir entre corpos, à “impossibilidade de descansar a
alma e o intelecto”(cf. Caio Gagliardi, ibid). “Sem querer, sinto que tenho
estado a pensar na minha vida”, “Reparo subitamente que o ruído é muito maior,
que muito mais gente existe”. Perpassando, em seguida, por meditações e
indagações de cunho filosófico, das mais lúcidas e expressivas, a la Pessoa,
ligando-se à linguagem de poema: “Acordo de mim pela banalidade de haver horas,
clausura que a vida social impõe à continuidade do tempo, fronteira no
abstrato, limite no desconhecido”; “e a minha visão já não é minha, já não é
nada: é só a do animal humano que herdou sem querer a cultura grega, a ordem
romana, a moral cristã e todas as mais ilusões que formam a civilização em que
sinto.”
Podemos
inclusive ouvir ecos de uma escrita nietzscheana, e talvez Deleuze teria dito
algo similar à escrita de Soares, se o tivesse lido, quando afirma que a
leitura de Nietzsche nos “dá um gosto perverso […]: de falar por afetos,
intensidades, experiências, experimentações […] Falamos do fundo daquilo que
não sabemos, do fundo do nosso próprio subdesenvolvimento. Tornamo-nos um
conjunto de singularidades soltas, de nomes, sobrenomes, unhas, animais,
pequenos acontecimentos: o contrário de uma vedete.” (DELEUZE, 1992, p.15).
O fragmento
fecha com reflexões lançadas às profundezas da alma humana, quando esta é
desconhecida e exilada, sem nome “Onde estarão os vivos?”, e damos de cara com
o vazio súbito, silêncio do espaçamento em branco. O espaço intermédio entre os
fragmentos, simples separação, mas que opera “ativamente”, pois é desse vazio
fundamental que se cria um ritmo de “fluxo-corte”, e se potencializa a
corporeidade da voz existente. Vazio que passa a ser essencial à performance da
leitura.
Podemos nos
indagar sobre aspectos desse tal “gênero”: o que nos faz considerar um texto
como sendo um fragmento? Do que deve falar? São textos breves; mas devem ser
menores que uma crônica, ou um conto? Ou ter uma linguagem diferente? João
Barrento, em O Género Intranquilo, lembra de Blanchot: “[os fragmentos] são
destinados em parte aos brancos que os separam”, e nos dá uma resposta
possível: “Vive e morre na relação com os outros. Cada coletânea de fragmentos
é um contínuum sempre em aberto” (BARRENTO, 2010, p.65). Assim, o branco, ou o
vazio – aqui em consonância com o “não sou nada” tantas vezes anunciado por Soares”,
a alma, “um abismo obscuro e viscoso, um poço que se não usa na superfície do
mundo” (fr.255) –, é potente no contraste com o devir; nesse caso, com um rio
da escrita. Reside nessa tensão a aliança com certo “empenho do corpo”: o
leitor deve participar, a seu modo, desses enigmáticos vazios-devires, que
escapam sempre de um representar algo dado ou dito, lançam-nos para lugares
“inapreensíveis” do corpo (ZUMTHOR, 2007, p.79). João Barrento: “O fragmento
assenta sobre um não-dito, o seu centro é sempre descentrado, a sua verdade, a
existir, será a do nome, não a do logos”. Nisso, a “obra” é um pouco de Richard
Zenith, que organizou-a sob uma lógica de abertura, em que os fragmentos se
ramificam e se potencializam em rede. Diferentemente de edições anteriores, não
há separações cronológica, estilística, ou temática, apesar de haver
semelhanças entre os fragmentos vizinhos, mas que logo vão se metamorfoseando.
A experiência de ler um livro “eterno” se realiza, pois, com mais força.
Lembremos,
no entanto, que não basta somente a disposição fragmentária contínua, pois esta
está em harmonia horizontal com o “dizer bem”, com a pergunta “Onde estarão os
vivos”, e as outras tantas imagens e paisagens das nostalgias de uma origem,
que atravessam o L. do D. – a própria biografia criada para Bernardo Soares,
voz única, que não tem pais, família ou qualquer filiação genealógica.
Poderíamos
nos desdobrar sobre inúmeras passagens de “fetichismos” da escrita, “permanente
exercício da linguagem para serpentear, no seu curso, discurso do silêncio” (CHALHUB,
1993, p.18). Alguns exemplos de experimentação da língua: “De suave e aérea a
hora era uma ara onde orar” (fr.395); “E súbito, como um grito, um formidável
dia estilhaçou-se. Uma luz de inferno frio visitara o conteúdo de tudo, e
enchera os cérebros e os recantos” (fr.450); “Oiço, coados pela minha
desatenção, os ruídos que sobem, fluidos e dispersos, como ondas influentes…”
(fr.398).
E
constantemente experienciamos breve roçar de uma origem anterior à língua, nos
vazios: “Meu esforço humilde, de sequer dizer quem sou, de registrar, como uma
máquina de nervos, as impressões mínimas da minha vida subjacente e aguda, tudo
isso se me esvaziou como um balde em que se esbarrassem, e se molhou pela terra
como a água de tudo”(fr.442); “Por fácil que seja, todo o gesto representa a
violação de um segredo espiritual” (fr.322); “A leve embriaguez da febre
ligeira, quando um desconforto mole e penetrante frio pelos ossos doridos fora
e quente nos olhos sob têmporas que batem… Pensar, sentir, querer tornar-me uma
só confusa coisa… como o conteúdo, misturado no chão, de várias gavetas
viradas” (fr.376).
Mas foi
apenas uma aproximação à dinâmica desse escrever-se o que tentei aqui,
observando um pouco, por mais que intuitivamente, o ritmo dos fragmentos.
Lemos e
temos a experiência de uma escuta peculiar. Somos deslocados a uma leitura
performática, em diálogo com a vida pelo sentir de todas as formas, que não
pede necessariamente uma unidade linear; mas uma lembrança ao “estar no mundo”,
atravessado por uma voz em devir, que
“se a oiço no meu ser, rolam grandes ondas com sons que não
param no mar sem fim; constelam-se em céus, e não é de estrelas, mas da música
de todas as ondas que os sons se constelam, e a ideia de um infinito decorrente
abre-se-me, como uma bandeira desfraldada, em estrelas com sons do mar, e a um
mar que reflete todas as estrelas” (fr. 123).
Na voz de
Soares, é como se Pessoa celebrasse, ao lado de Valéry, o infinito da obra
sendo o infinito do próprio espírito, o lugar fechado de um trabalho sem fim (BLANCHOT,
2011, p.12).
Como um
comprimido diário, ou como um encontro ao acaso, simplesmente tomamos o Livro e
nossas mãos secretamente abrem-no em uma página, nos intervalos banais entre o
acordar e o café da manhã, o ponto de ônibus, o breve ócio numa cadeira. Não
sem um angustiante e belo abandono, no “vidro tênue entre mim e a vida” (fr.80),
“tempo sentado em seda” (imagem de um poema de Herberto Helder), habitamos o nó
da experiência de sermos devir eterno e silêncio profundo.
Referências
LOPES, Rodrigues, Silivina. “Des-figurações (sobre o Livro do Desassossego)” In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n. 102,
mar. 1988, p. 61-67.
CAVARERO, Adriana. “A desvocalização do logos”. In. Vozes plurais: filosofia da expressão
vocal. Belo Horizonte; UFMG, 2011
BAUDELAIRE, Charles. “O sol”. In. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro. Nova
Fronteira, 2012, p.307.
MESCHONNI, Henri. “Variações do conceito de ritmo”. In. Linguagem: ritmo e vida. Trad. Cristiano
Florentino. Belo Horizonte; FALE/UFMG, 2006.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Fernando
Pessoa: Aquém do eu, além do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
DELEUZE, Gilles. Conversações.
São Paulo: Editora 34, 1992.
BARRENTO, João. O
género intranquilo: anatomia do ensaio e do fragmento. Lisboa: Assírio
& Alvim, 2010.
ZUMTHOR, Paul. Performance,
recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
CHALHUB, Samira. Poética
do erótico. São Paulo: Escuta, 1993.
BLANCHOT, Maurice. O
espaço literário. Trad. àlvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.
***
Lucas Miyazaki Brancucci nasceu em 1994. Dedica-se à literatura e à escrita. Em 2015
publica o livro Elefantes (vencedor do Programa Nascente, na área texto). Mantém
o blog Incidentes.






Comentários