Edward Hopper, visionário da solidão
Por Naief Yehya
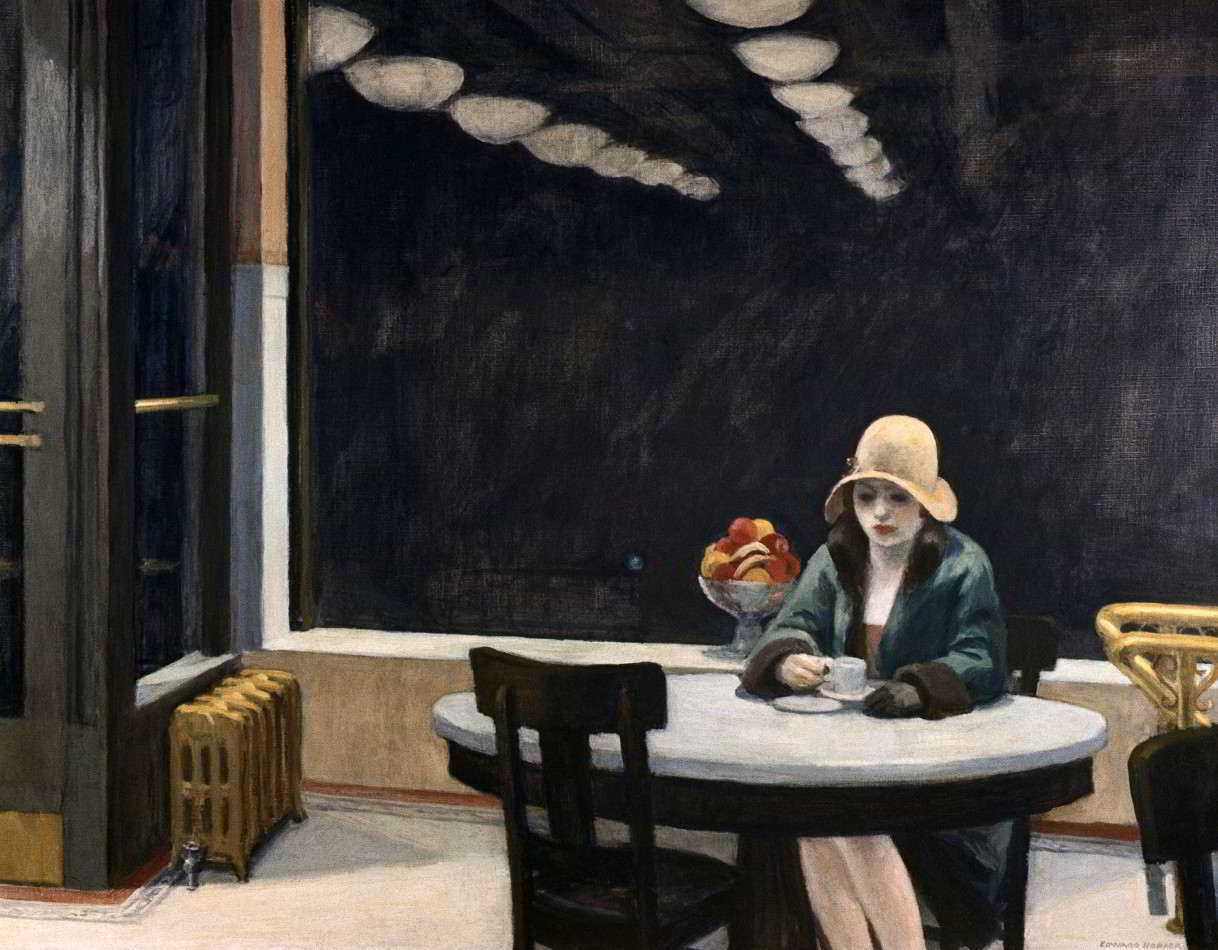 |
| Edward Hopper. Automat (1927). |
Edward Hopper nasceu em Nyack, Nova York, em 22 de julho de 1882, e
morreu em Manhattan em 1967, depois de viver por quase sessenta anos (desde
1913) em um apartamento no número 3 da Washington Square North, em Greenwich
Village, ao lado de sua esposa Josephine Jo Nivinson, que ele conheceu quando
ambos eram estudantes de arte em 1905. Edward e Jo trabalharam até a morte em
estúdios vizinhos no mesmo prédio; eles tiveram um relacionamento tão longo
como tenso e tempestuoso.
Ela se encarregava de documentar o trabalho do marido, arquivar a obra,
fazer diários, propor ideias para desenvolver e, por ser muito ciumenta, exigia
ser sua única modelo. Brigaram violentamente e passaram períodos se ignorando
em silêncio. Eduardo, como um bom vitoriano de seu tempo, era lacônico,
inflexível, desprezava o trabalho da esposa e era incapaz de demonstrar a menor
gratidão.
Ele era um leitor voraz de literatura, filosofia e poesia em francês e
inglês. Mas particularmente era um homem tímido, taciturno e solitário, como os
personagens que pintava. A sua maior diversão era o teatro e o cinema; colecionava
os bilhetes com anotações das sessões a que assistia. Os teatros e os cinemas
ocupam um lugar importante em sua obra. Sua pintura final, Two Comedians
(Dois comediantes) mostra dois personagens vestidos como arlequins de branco
(Jo e Edward, provavelmente), agradecendo e acenando do palco para o público.
Hopper estudou com Robert Henri, a quem considerava seu mais importante
professor e que o ensinou a dominar a linguagem expressiva das poses e dos
gestos, como aponta o crítico britânico Peter Fuller em seu esplêndido ensaio “Edward
Hopper: The Loneliness Thing”, em 1981. Passou algumas temporadas em Paris. Tinha
um profundo conhecimento da história e da tradição da arte modernista europeia,
mas se afastou progressivamente dela. Conservava um desprezo por Cézanne e
pouco interesse pelos sucessivos ismos do século XX. Desenvolveu um estilo
impressionista mas aparentemente, ao tentar dissolver o mundo físico no
pontilhismo de flashes e efeitos de luz, descobriu que na verdade estava
interessado em explorar “não só o corpo (e o mundo) como objetos de percepção,
mas também elementos extraídos dos próprios processos de percepção”, como
aponta Fuller.
Em seu último retorno da França, Hopper estava na casa dos quarenta anos
e encontrava dificuldades em ganhar a vida como pintor. Considerando que seria
mais fácil vender gravuras do que pinturas, fez uma extraordinária série do
tipo que antecipam alguns temas, o manejo da luz e sua visão da pintura. Mas se
viu obrigado a trabalhar fazendo ilustrações para revistas e anúncios. Nunca
gostou de fazer isso e se recusou a dedicar mais que três dias por semana para
esse trabalho que lhe garantia o sustento básico. Em 1923, sua então amiga
Josephine, que já tinha algum reconhecimento e contatos, o recomendou para
inclusão numa mostra coletiva no Museu Brooklyn, para a qual ela havia sido
convidada. Essa exposição foi o trampolim para o seu sucesso como pintor. Jo e
Edward se casaram no ano seguinte. Desde então começou a ser reconhecido, a
expor regularmente e a ter inúmeros colecionadores. O Museu de Arte Moderna de
Nova York ofereceu-lhe sua primeira retrospectiva em 1933.
 |
| Edward Hopper, Sun in na Empty Room (1963). |
A partir dos anos 1920, Hopper encontrou uma forma de criar imagens
extraordinárias, carregadas de uma potência narrativa que se devia à relação dos
personagens com os espaços físicos e a iluminação. A solidez dos espaços e a
fluidez da luz atingem seu ápice com Sun in na Empty Room (Sol num
quarto vazio), de 1963, que parece ser o ápice dessa busca: um quarto povoado
apenas pelos raios do sol entrando por uma janela. A luz revela o interior numa
dança intimista de sombras e luminosidade nas paredes e no chão. Hopper
escolheu pintar a vida moderna tentando fugir das convenções da arte moderna.
Assim, ele foi inicialmente percebido como um realista neutro. Mas não
há nada neutro em sua arte, tudo o que ele integrava em suas pinturas estava
carregado de significações. Manteve-se expressamente distância de grupos e
correntes, embora se definisse como realista e chegou a militar por essa
causa. Segundo Gail Levin, uma das mais importantes pesquisadoras da vida e
obra de Hopper, e Josephine Nivinson, o pintor se juntou no início da década de
1950 ao corpo editorial da publicação Reality, que, segundo Jo, tinha
como objetivo: “Preservar a existência do realismo na arte contra a usurpação
massiva da abstração pelo MoMA, Whitney, e estendendo-se através deles para a
maioria das universidades, para aqueles que não podiam deixar de assinar o dernier
cri de Europa”.
Numa declaração de princípios para essa publicação, Hopper escreveu em
1953: “A grande arte é a expressão externa de uma vida interior do artista, e
essa vida interior resultará em sua visão pessoal do mundo.”
Chama atenção que em suas pinturas estão ausentes em grande parte as
decorações, os artefatos, as novidades e os produtos que começaram a invadir o
lar nas primeiras décadas do século XX. Os lugares que esses elementos ocupam
nos interiores domésticos são sugeridos, mas ao não os incluir enfatiza seu
poder na imaginação.
Embora alguma vez Hopper tenha admitido que era um impressionista de
coração, ele negou que houvesse algo mais em sua pintura e se apresentava quase
como um minimalista. Mas é claro que, se era realista, também criava situações
de conotação surrealista e simbolista, e até mostrava vislumbres de romantismo.
Sempre foi dono de um estilo próprio, simples, austero, despojado de enfeites,
frio e distante; no entanto, isso não foi um obstáculo para construir imagens
fantásticas a partir do trivial, para fazer do cotidiano algo misterioso,
extraordinário, sinistro e intimidador. Desta forma, se tornou o poeta da
banalidade, como o descreveu Peter Campbell.
É verdade que existe um hermetismo estoico em suas pinturas, mas também se
oferecem pistas para acessar sua interioridade, que podemos intuir em gestos
simples, posições e olhares de seus personagens para fora da pintura, os quais
estão fora de nosso alcance e ao mesmo tempo próximos à experiência universal
do habitante da cidade. Seus sujeitos são sempre vistos clandestinamente, daí o
inevitável voyeurismo. Eles não se dão conta de serem observados, de serem
vulneráveis em seu abandono, por isso nos reconhecemos neles mesmo distantes,
remotos e impenetráveis. São indivíduos que desconhecemos completamente e ao
mesmo tempo nos são profundamente familiares. No entanto, eles não pertencem ao
nosso mundo e nós não pertencemos ao deles.
O pintor retrata os tempos mortos, os olhares no vazio, as esperas. São
momentos perdidos, eternos e precariamente transitórios, em que os personagens
existem em um tênue equilíbrio com o espaço. Os protagonistas de suas pinturas
aparecem majoritariamente como burgueses, com exceção de algumas figuras
marginais como a stripper em seu Girly Show, de 1941. Destacam-se os
casais infelizes, incapazes de demonstrar qualquer afeto ou interação, mesmo em
peças que parecem envolver cenas pós-sexo: sem contato, ambos desconectados de
seus entornos — é difícil não pensar que são reflexos do relacionamento de
Edward e Jo. É uma obra geralmente desprovida de erotismo, mesmo quando
apresenta nus; talvez a exceção seja a mulher de vestido transparente em Summertime
(Verão), de 1943, um dos momentos em que sua pintura sugere o desejo.
A cidade de Hopper é formada por ruas solitárias, ora bem iluminadas,
ora bastante escuras, sempre habitadas por seres solitários, isolados,
contemplativos, perdidos em si mesmos ainda quando acompanhados. O tema da
solidão, como começou a ser conhecido o estilo de Hopper, tornou-se seu grande
tema. No entanto, ele achava que os críticos exageravam e davam muita
importância sobre isso. Peter Fuller escreveu que suas pinturas eram “tão
preocupadas com uma certa ‘estrutura de sentimento’ quanto com a topografia.
Mas essa ‘estrutura de sentimento’ é ‘a questão da solidão’”. É impossível não
ver os seus bares, cafés, cinemas, teatros e quartos como espaços de
introspecção. Domínios onde a luz e a sombra se apropriam das características
espaciais e, ao reinventá-las, contam uma história de arquitetura, desolação e
melancolia. Suas imagens são instantâneos que funcionam como paisagens
existenciais e radiografias da tristeza.
A sua casa é uma cidade de janelas — sem cortinas nem persianas — que
convidam a espiar a privacidade e permitem que os habitantes alienados desses
espaços vejam o exterior. Porém, são poucas as portas e as que vemos não estão
abertas. As suas paisagens combinam a sobriedade e o ascetismo de certas visões
religiosas e místicas com a eficácia das imagens da ilustração e da publicidade;
uma combinação que lembra as estranhas praças de Giorgio de Chirico e antecipa
o fotorrealismo de Robert Bechtle. Outras influências incluem desde
Toulouse-Lautrec, Watteau e Degas até Gustave Caillebotte, um realista próximo
aos impressionistas que trabalhou com cenas urbanas parisienses carregadas de
nostalgia.
 |
| Edward Hooper. Night Windows (1928). |
Em sua profunda modéstia, os bares, os cafés, as farmácias, os quartos
de hotéis, os escritórios e os postos de gasolina assumem proporções cósmicas,
como se fossem templos ou altares agnósticos, lugares para se abandonar à
angústia silenciosa e passiva. Night Windows (Janelas Noturnas), de
1928, por exemplo, expressa a impossibilidade de atingir o outro, a percepção
do próximo como alguém distante. Hopper era um grande admirador da cidade, era
fascinado por sua geometria, seus ritmos e suas atmosferas; no entanto, o que
há de mais singular em sua visão de Nova York é que ele a mostra basicamente
horizontal. A vertigem vertical dos arranha-céus que teve de ver multiplicar-se
não aparece nas suas pinturas.
Ele era um conservador que se opunha aos programas do New Deal
dos anos trinta, que ele entendia como “concessões à mediocridade”. Votou
contra Franklin D. Roosevelt. Detestava as mudanças numa cidade que está sempre
mudando. Em particular, tentou impedir que a Village de Manhattan fosse
transformada pelo desenvolvimento de qualquer maneira. O sonho americano e as
ilusões do progresso urbano resultam ingênuos e distantes da realidade interior
humana. Estava interessado em exibir o custo emocional da vida moderna,
refletido em quartos semivazios, refeições e bebidas solitárias. Segundo seu
amigo, o pintor e crítico francês Guy Pène du Bois, “ele transformou o puritano
em purista e transformou os rigores morais em precisões estilísticas”.
Através da aparente simplicidade atinge uma complexidade delicada em
termos de composição e atmosfera. John Updike escreveu que “em suas pinturas
ele parece estar prestes a contar uma história: em Room in New York [Quarto
em Nova York, 1932], Hotel Lobby (1943) ou Summer Evening [Noite
de verão, 1947], a cortina sobe sobre uma imagem intrigante.” Podemos até
pensar que, como também aponta Updike, suas cenas são verdadeiros cenários “que
nos tornam conscientes de nossa condição de espectadores e despertam nossa
curiosidade sobre ações passadas e futuras”.
Em grande medida, Hopper trabalhava seus quadros como se fossem
molduras, usando o que agora pareceria storyboards. As cenas que retrata
parecem espontâneas mas resultam de um longo processo, de estudos e
observações, de inúmeros desenhos preparatórios, esboços e colagens, de
recriações e falsificações, tudo escrupulosamente documentado por Jo. Mas
embora fizesse um estudo minucioso das formas e elementos que incluía nas suas
pinturas, também se opunha a dar demasiados detalhes, limitando-se sempre ao
essencial. Esse trabalho metódico e exaustivo chegava a paralisá-lo — às vezes
a própria Jo começava as pinturas para motivá-lo — e é uma das razões pelas
quais ele produzia pouco, às vezes duas ou três telas por ano.
 |
| Edward Hopper. Nighthawks (1942). |
Duas de suas obras mais conhecidas e emblemáticas parecem sintetizar o
estilo de Hopper: Automat (1927) e Nighthawks (Noctâmbulos, 1942).
No primeiro, uma mulher sozinha come em um restaurante, usando chapéu, luva e
casaco, como se estivesse com pressa e não estivesse interessada em comer ou
saborear sua comida. Na segunda, um casal e um homem tomam café em uma
cafeteria, ninguém parece falar ou sorrir. Em ambos, as janelas são o limite
com a escuridão impenetrável da noite; o lugar é uma bolha de luz artificial,
impessoal e higiênica no meio do nada.
São reflexões sobre a promessa e também sobre a fragilidade do
individualismo. Nas palavras do poeta Mark Strand, em seu texto póstumo “On
Edward Hopper”:
“Quando o posto de gasolina aparece na tela em sua forma final, não é
mais apenas um posto de gasolina. Foi hopperizado. Ele possui algo que
nunca teve antes que Hopper o visse como um possível tema para sua pintura... E
como caracterizar esse mundo, instantaneamente reconhecível mas obstinadamente
estranho, uma mistura do ordinário e do sinistro?”
A relação entre a obra de Hopper e o cinema é estreita e caminha em
ambas as direções. Sempre foi um cinéfilo e desde o início sentiu a influência
de ambientes fílmicos como Nosferatu (F. W. Murnau, 1922), do cinema
expressionista alemão e do film noir. Por sua vez, Alfred Hitchcock se
inspirou em sua composição House by the Railroad (A casa ao largo da
ferrovia, 1925) para a casa dos Bates em Psicose (1960) e na cena em
Night Windows (1928) para Janela indiscreta (1954).
Suas imagens também tiveram uma forte influência no cinema mundial e em
particular nos Estados Unidos. Nighthawks foi inspirado num conto de
Ernest Hemingway e por sua vez influenciou a adaptação cinematográfica do conto
Os assassinos (The Killers, Robert Siodmark, 1946). Além disso,
essa pintura foi recriada em Pennies from Heaven (Dinheiro do céu,
Herbert Ross, 1981), The End of Violence (O fim da violência, Wim
Wenders, 1997) e até mesmo em um episódio de Os Simpsons, entre muitos
outros produtos culturais.
* Este texto é a tradução livre para “Edward Hopper
visionario de la soledad”, publicado em El Cultural, n. 376, 5 de
novembro de 2022.






Comentários