António Vieira e os mistérios que palpitam na noite
Por Alfredo Monte
 |
| António Vieira. Foto:Ricardo Gil |
«É às noites
que minha alma se confia» (Rainer Maria Rilke)
1
Os 12 contos
reunidos por António Vieira em Olhares de Orfeu têm como mote as considerações
de Maurice Blanchot sobre Orfeu no clássico O espaço literário (1955)1.
Se no Segundo Fausto goethiano, Mefistófeles diz: «compreender à luz
do dia é ninharia, mas na escuridão todos os mistérios palpitam», o grande
pensador francês radicaliza essa potência da noite, sua “dissimulação”, ao
ponto de tornar a exploração dos seus mistérios sempre uma tarefa oblíqua, um
“risco do olhar”:
«Orfeu pode
tudo, exceto olhar esse ponto de frente, salvo olhar o centro da
noite na noite. Pode descer para ele; pode, poder ainda mais forte, atraí-lo a
si e, consigo, atraí-lo para o alto, mas desviando-se dele: tal é o sentido da
dissimulação que se revela na noite (…) A profundidade não se entrega
frontalmente, só se revela dissimulando-se na obra (…) ao voltar-se para
Eurídice, Orfeu arruína a obra, a obra desfaz-se imediatamente, e Eurídice
retorna à sombra; a essência da noite, sob o seu olhar, revela-se como
não-essencial. Assim traiu ele a obra, Eurídice e a noite…»
Não se
espante o meu leitor, e muito menos se retraia, ao constatar que antes mesmo de
comentar os textos de Olhares de Orfeu, já saí citando Goethe e Blanchot.
Os relatos aí enfeixados exploram o órfico, o ctônico, e também o imaginário
dito “primitivo” (“O bom selvagem” transcorre nas Ilhas Marquesas), além
das tradições orientais (“exóticas”, mesmo hoje) e, claro, linhas de força da
tradição greco-romana em nossa constituição mental; sobrepairando, a tradição
judaico-cristã, tanto nos aspectos bíblicos (em particular, o Velho Testamento)
quanto nas suas explorações mais audaciosas (o veio cabalístico).
Além dessa
mobilidade impressionante por entre tantas perspectivas culturais,
deslocando-se totalmente da ancoragem no contemporâneo mais evidente e
contingente, parece-me crucial chamar a atenção para o seguinte fenômeno: como
Hilda Hilst —único caso de um escritor nas últimas décadas, entre os que eu
conheço, que tem o mesmo destemor, e o escopo para tanto—, Vieira não tem medo
de se colocar tête a tête com Blanchot, Nietzsche, Kafka (de quem
retoma um conto fragmentário e inquietante, aquele do caçador Gracchus),
Valéry, Kierkegaard, Robert Walser, Kant, Stevenson, sem falar nos textos
bíblicos; ou seja, ele sempre se situa nos cumes da criação e da reflexão (que
me perdoem os desconstrucionistas e relativistas). E nem deveria ter: com
relação a essa arriscada mirada de Orfeu, se o leitor se dá conta de uma
ambição (e consequente “dicção”) invulgar nestes tempos que correm, também
percebe nitidamente a falta de presunção, afetação ou recurso à
erudição-google.
O fato é que
estamos diante de um dos maiores praticantes do jogo literário contemporâneo (o
virtuosismo de Vieira faz dele, mais do que um homônimo, um verdadeiro avatar
no século XXI do “imperador da língua portuguesa”), e um dos mais singulares,
justamente pela sua teimosia em não descer dos cimos.
2
Dos doze
relatos de Olhares de Orfeu, cinco são feitos na primeira pessoa. Um deles
é o único inédito da coletânea2, “Jonas ou Os benefícios da
prece”. Seu protagonista é o personagem bíblico, que se encontra dentro do
grande peixe («À náusea pelo conteúdo das entranhas do peixe—Teu servo quanto
eu—e pelos odores fermentados que encerravam, sucedeu a náusea—esta exaltante
em extremo—de sozinho, decidir com a razão se era vivo ou morto, e o que era a
vida, e mesmo a morte, e o cenário de uma e outra, e a fronteira entre uma e
outra em situação terrível») e coloca em equação tanto um dos riscos do Olhar
(no caso, o de Deus focalizado em Jonas) quanto a exploração tópica da Noite,
enquanto entranhas do ser e potência do não-ser (e por extensão, estas mesmas
entranhas tornadas subterrâneo, descenso, experiência ctônica), «porque na
escuridão se me suscitaram luzes a que na luz nunca acedera». É como se
assistíssemos ao parto de um novo Jonas, aquele que pode corresponder
ao chamado de Deus, de que ele se esquivara.
 |
| Editado pela pequena editora & etc, Olhos de Orfeu (que tem capa em dupla face) |
Apesar
dessa moral da fábula mais para o positivo (mesmo levando em
consideração a agônica experiência), o relato de Jonas estabelece liames, ou
antes, na linguagem recorrente do autor, filamentos, com os outros textos
(estes, em terceira pessoa) que se valem da tradição judaico-cristã, no que ela
tem de mais entranhado em nós: é o caso de “O grande luto”, onde um
astrônomo judeu, Efraïm, tem em mãos o mapeamento dum setor do universo no qual
se pode ver o cadáver de Deus:
«Mirava o
grande corpo destroçado, ali, no umbigo cósmico, a dispersar-se por entre
acúmulos de formas negras. Da mão, escapavam-Lhe ainda os primeiros fios do
tempo; letras hebraicas desconjuntas jorradas da Sua boca (tinham composto a
fórmula mágica do mundo!) dispersavam-se em redor da fonte de onde jorrara o
Ente, sementeira improfícua… Provinham da palavra inacabada de Deus feita Ser,
e logo feita caos, e juntavam estilhaços de verbo aos do divino espólio…»
Orfeu ousou
olhar o que não podia ser olhado e, a seguir, tentando evitar as consequências
dessa mirada escatológica, metamorfoseia-se ironicamente em Narciso, diante do
mar (que se fará presente em muitos dos relatos):
«Debruçou-se.
Um turbilhão contorcia a água obscura, movia a película em que cintilavam fogos
efêmeros, separando um véu de sombra da luz nascente. Enigma… Pareceu-lhe que
aquele mar repetia algo do céu profundo onde pulsava o inaudito. Foi
quando entreviu, sem a reconhecer, a própria sombra, estampada na pele
tremeluzente da água junto ao sorvedouro, entre laivos de luz. Sentiu o terror
e a atração daquela silhueta, como se algo ali se repetisse. Para ver mais de
perto inclinou-se das rochas, mas precipitou-se, e com o seu segredo se perdeu»
É o caso,
igualmente, de “O festim”, onde há uma aposta pelo destino do mundo entre
Deus e Leviathan, o monstro das profundezas: «Porque Deus queria dar rumo
ao tempo e fazê-lo atingir um ponto fixado desde o início; quando Leviathan
tomara gosto pelo jogo enquanto puro jogo, o que arrastaria à anarquia cósmica». A
aparição de um anjo (só mesmo um autor do quilate de Vieira pode tornar isso de
aparição de um anjo possível, e conseguir que o levemos a sério) é arauto de
uma festa universal, onde será conhecido o vencedor do Jogo.
É difícil
pensar em qualquer paralelo para esse trio de textos na ficção atual, quanto ao
que eles entretecem de especulação metafísica e utilização das grandes fontes
do misticismo judaico-cristão, e mais ainda quanto ao seu tom elevado.
No entanto, logo em sequência a “Jonas”, temos o extraordinário “O último
fio do tempo”, ponto altíssimo na obra de Vieira, no qual mais um anjo aparecerá,
a buscar a alma de Gabriel, cabalista que chegara à seguinte e sombria
conclusão: «As criaturas eram-lhe impenetráveis, devia renunciar a captar
a verdade mais profunda que habitava nas coisas».
Toda a
construção fabular do conto é muito marcante: a linguagem corporal do anjo, as
suas plumas, o seu falar que é também um destilar de caracteres hebraicos, o
“ponto” que vai sugando os elementos da “realidade”: «… as suas palavras,
desenhadas com elegantes caracteres hebraicos negros e fecundos, saíam outra vez
de sua boca, ondeavam junto ao cone de luz do abat-jour, rodavam em espiral,
afilavam-se e iam perder-se no ponto misterioso que rondava…»
Um dos
momentos mais bonitos é quando Gabriel estende ao anjo uma foto antiga e já
meio desbotada:
«E o anjo
olhou-a com o fulgor do seu olhar e viu um menino de ar triste que esboçava um
sorriso e não escondia o espanto pelo que se desenrolava em frente dele, no
espaço. A seu lado, outros meninos, e adultos, no convívio enigmático entre
mortos e vivos que existe nalgumas das velhas fotografias: ali, um muro, um
chão de ervas, uma árvore de inverno despida de folhas… e os humanos. Reparou o
anjo que a marca do menino no papel era mais viva do que a das outras
figuras—por ser ainda o único sobrevivente.
—O menino,
era eu… sou eu, posso dizê-lo. Acaso sabes o que o atraía nesse instante
preciso? O que havia de extraordinário diante dele?
O anjo
esteve mudo um momento. Disse enfim:
—Eis o que
não me ocupa nem me interessa. O que viram os humanos é como um sonho que se
perde»
E, por fim,
Gabriel conhecerá (mas não o acompanharemos) o que a Noite dissimula
(Blanchot: «Olhar na noite o que a noite dissimula, a outra noite…»).
E tudo sempre regido pelo compasso do Olhar, nesse livro de implacável coesão.
3
O próximo
relato em primeira pessoa é “A passagem ou O regresso do caçador
Gracchus”. Desta vez, o caçador que morreu e não consegue deixar o nosso
“plano” terreno e material, devido a um erro de pilotagem («Sim, perdeu-se o
ângulo justo para o continente da morte. Um grão de caos infiltrou-se na
bússola…»), aporta em Kirkenes, povoado onde mora o narrador, o qual sonhou que
o amaldiçoado viajante chegaria, augúrio confirmado pela aparição de pombos, um
dos quais martela com o bico o vidro de uma janela, transmitindo a mensagem do
retorno cíclico e vão, a rota absurda de quem deixou de existir e no
entanto erra pelo mundo. Como o
cabalista Gabriel, como o astrônomo Efraïm, em seus vastos universos do Conhecimento,
há algo que se recusa a se deixar apanhar, uma equação que se furta; assim como
o Livro (seu único Livro, a obra de uma vida) do filósofo JL, em “A Paixão
Segundo JL”3, no qual tentava sintetizar toda a questão da liberdade:
«…se
afadigava em reunir todos os fios do problema que na mão lhe coubessem (…) O
que procurava, obstinado, era um ponto de apoio contra o universo fluido
heraclitiano onde a água das aparências corria pelo tempo do rio e a fúria do
fogo. Queria, pela força só da reflexão e a caução da escrita—como o grande
Cartesius—encontrar, criar esse ponto imóvel, firme e improvável, de onde
pudesse lançar um olhar absoluto sobre a Coisa crua que rondava, e submetê-la»
 |
| A outra face de Olhos de Orfeu |
Aquém (no
sentido de ser uma vida individualizada) dessas abissais “solidões”, desses
seres/não-seres (Deus, Gracchus) em que a sempiternidade confina com a morte
tornada condição essencial, temos o espécime único («Singular condição, a de
estar só na sua espécie—ser o primeiro? Ou o último? »), ser bizarro, agrilhoado
entre sua natureza animal e o espaço humano, em “Hapax”, outro relato em
primeira pessoa. Estamos no reino parcelar da memória individual, aquele mesmo
tão merecedor do desdém do anjo (em “O último fio do tempo”):
«A memória,
mesmo a de um animal estranho, é um fenômeno que perturba: esquece o
fundamental, guarda o supérfluo, distorce o real, mistura o que vivemos com o
que nos contam, junta razão e emoções, palavra e mundo, cede ao esquecimento
que chega a encobrir de nós o nosso passado—e ainda assim forma o pilar da
identidade e da possibilidade de conseguirmos algum saber a partir das coisas
em redor»
Uma névoa
cobre as origens de Hapax. Ele começa a contar sua vida a partir do ponto em
que foi capturado na floresta e se torna animal de estimação e companheiro dos
filhos de Robert, Felix e Flori: «Cresci, portanto, entre aquela família,
afeiçoei-me aos seus padrões, ritmos e preceitos (…) Cedo os meus captores se
habituaram à minha presença, e eu fui sentindo-me absorvido pelos seus hábitos,
dia após dia. E como os humanos se prendem aos animais que crescem no seu
espaço, Felix e Flori afeiçoaram-se a mim, e eu a eles. Brincávamos juntos.
Sendo todos meninos, dormíamos em camas semelhantes, comíamos em gamelas
gêmeas…»
Malgrado a
incontornável situação do Ser cativo, poderia ser um quadro idílico, mas
vejamos a continuação do texto: «Às vezes, enrolava-me sobre as coxas da
pequena Flori, sorvia-lhe o doce cheiro; mas pouco tempo Flori ficava imóvel,
um frenesim infantil a agitava, que me impedia de entrar no paraíso quando me
sentia já às suas portas…”». Quer dizer, a animalidade adormecida
explodirá no tempo azado, já se está tecendo uma crise (e, portanto, um
impasse) nessa aparente calmaria («Mas eis que Flori desabrochou de súbito em
formas, cores e cheiros de mulher…»).
Mas além da
bonita estranheza que a situação-chave de “Hapax” nos proporciona,
gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, para os liames-filamentos através
dos quais Vieira aproxima as mais diferentes (no sentido de ambientação e
espaço civilizatório) situações: o mar arrebatou Efraïm, o astrônomo, e
JL, o filósofo, e Robert, o pai (que evoca, por efeito do empréstimo de alguns
nomes, Robert Walser, o grande autor suíço), citando o exemplo de Kant, leva
todos para conhecer o mar («Num dia outonal de céus cinzentos, Robert levou-nos
a ver o mar. Até o filósofo Kant—disse-nos—interrompeu um dia seu trabalho para
ir conhecer o mar…») cuja visão deslumbra e perturba Hapax, que pensa em volta
do fogo, à noite:
«Ser
plenamente humano, pensei, era talvez partir à procura das raízes-razões mais
fundas do mundo, como fizera o filósofo Kant: partir a interrogar o que havia
sob as aparências, por baixo das cintilações sombrias do mar e coruscantes do
fogo. Gostaria de o saber fazer, apesar dos riscos que antevia, da grande
solidão que adivinhava em tal projeto»
À descoberta
do mar vem se acrescentar um olhar sobre o evento do cometa Halley, registro
contingente de uma passagem “histórica”, mas também um dos rastros da
dissimulação da Noite, com suas mensagens crípticas.
4
Uma
constante da existência cativa de Hapax é o olhar sobre a sua aparência:
«Quando a
minha figura assomou por fim à luz e lhes foi entregue sem defesa, logo se
abandonaram a grandes risos, coro de clamores ritmados, ondulantes, que lhes
contorciam as faces e me apavoraram. Vi, assestados em mim, os grandes olhos
claros com discos azuis dourados como astros: eram olhos-globo luminosos,
transparentes, sobre os quais se recortavam reflexos de objetos. Distingui
mesmo entre estes um vulto fusiforme e furtivo de cor fulva, inepto no
mover-se, inábil no erguer-se, vulto de um ser fugidio, assustado, e concluí
que era a imagem espelhada de mim próprio»
A aparência
(ou aparências sucessivas) e o papel social que é reservado aos seus
portadores, é uma tônica dos textos da segunda metade de Olhares de Orfeu.
Como antes, tomo como eixo um dos relatos em primeira pessoa, “A
transmigração” (embora neste caso o narrador seja um nós, representando um
grupo de arqueólogos, e os fatos centrais não sejam diretamente ligados a ele).
No Japão, um túmulo é descoberto e explorado para pesquisa: «…tratava-se
da última morada da princesa Nakonokimi, que na primeira juventude se casara
com o imperador Toba e fora mãe do futuro imperador Sutoku».
Apesar de
uma beleza fenomenal, ela fora repudiada duas vezes: primeiro, pelo homem que a
tomara (ainda criança) como concubina, o imperador Xirakawa. Para mexer os
pauzinhos e permanecer no poder, ele renunciara (parecia, nessa época, mais
interessante ser regente do que imperador em efetivo exercício, há uma miríade
de imperadores-crianças e regentes com todo o poder) e a forçara a casar com o
neto, Toba, que depois fez o mesmo. Uma história típica da complexidade da
Corte japonesa; todavia, como nos alerta o narrador: «O que nos atraía e
obcecava, nesses momentos que precederam a abertura da câmara, não era tanto a
elucidação histórica de um período remoto e venerável como o desvendamento da
pessoa secreta de Nakonokimi, mantida sempre na sombra da História; sentíamos o
desejo instante de desvendar algo da sua figura nebulosa…».
A câmara
mortuária decepciona os pesquisadores. Tudo o que era importante encontra-se
devastado e restaram pouquíssimos traços que ajudem a entender a pessoa secreta
de Nakonokimi («… dois espelhos de bronze, porventura oferecidos a Buda—e
fizeram-nos sonhar com o reflexo ausente da princesa, que decerto outrora os
animara. Mas não sabíamos como interrogar a memória dos espelhos»).
A descoberta
mais estimulante são algumas sementes de uma espécie extinta de magnólia. Os
arqueólogos decidem plantá-las num canteiro protegido no campus. Ali nasce uma
flor resplandecente e de cheiro delicioso, cheia de frescura e brilho. Sua
existência é desalentadoramente efêmera e nunca mais se repete a
floração: «…dir-se-ia que se entregara ao nirvana, renunciando ao desejo
de florescer, frutificar e dar sementes. Suspendera seu destino, como se nela
transmigrara a princesa, tendo-se a sua essência entregado àquela única
semente, àquela flor, repetindo nas seivas e ciclos da magnólia a sua
existência mirífica, por forma a surgir ainda uma vez no mundo das aparências—a
saudar, quem sabe, a nossa devoção—mas retirando-se definitivamente».
Em terceira
pessoa e aparentemente muito afastado dos temas japoneses da transmigração de
almas e da beleza que se retira do mundo (é boa demais para ele, talvez; pelo
menos não para o tabuleiro dos interesses do poder), “O bom selvagem” narra
como H. ao evadir-se do mundo dito civilizado para viver nas Ilhas
Marquesas (no final do século XIX) se deixa obcecar pela beleza da nativa O. e,
para possuí-la, se submete aos ritos sociais: o homem para ter valor e
ser aceito como marido precisa se deixar tatuar. O corpo inteiro, de
preferência: «As dimensões da tatuagem designavam a beleza, a riqueza e
também a resistência física, tão dolorosa e arriscada era a sua escarificação».
Durante um longo tempo, e utilizando praticamente todo o seu capital ele se
isola para que os tukunas (os tatuadores rituais) lhe deixem o corpo
no estado prestigioso para se oferecer como marido de O.
Se o olhar
poético do presente tenta resgatar a beleza infeliz da princesa Nakonokimi da
sua abjeção (na realidade histórica pretérita sem mistificação) como objeto de
troca e barganha, o olhar que a dedicação de H. (em seu renascimento,
transmigração simbólica) merece é o do desprezo e da derrisão: «Ora, eis
que, chegando O. diante dele, olhando-o com pasmo ao ver as negras marcas sobre
a brancura nórdica da pele, explodiu num grande riso. Não podia tomá-lo a
sério! De novo o olhou, de novo foi sacudida por esse riso insano. Voltando à
sua presença em dias que se seguiram, sempre era possuída do mesmo riso louco e
convulsivo, tornando-se incapaz de o olhar sem rir».
Assim como
Hapax, mesmo humanizando-se. sempre será olhado como ser estúrdio (e
por isso para ele é um alívio encontrar um cantinho escondido, coisa que todo
Gregor Samsa em botão acaba aprendendo), mesmo retirando-se daquele mundo
idílico (como fez a princesa) H. carregará em si as marcas que determinaram sua
expulsão e um papel social impossível: nem poderá voltar totalmente ao mundo
dos brancos nem poderá pertencer ao mundo de O., especialmente sob ridículo. Só
poderá ausentar-se do mundo através do álcool, permanecendo como triste figura
para os viajantes: «Ébrio de álcool, ébrio de sol, parecia melancólico e como
ausente, alheio ao mundo. Assim o avistavam os raros visitantes chegados da
Europa, olhando-o, intrigados, consternados enfim ao escutarem rumores da sua
história».
5
E no último
texto, “Eram tons só cinzentos sobrepostos”4, como era de se
esperar, Orfeu faz sua aparição encarando o que se dissimula na Noite,
recolhendo do volume inteiro (e sintetizando) todo o jogo de sombra e luz, de
manifestações transitórias e incognoscíveis forças eternas:
«Como
distinguir os mais densos cinzentos da perfeita treva? E quando dominaria esta
todo o espaço, abolindo contornos e contrastes? Era um tempo que escasseava e
descaía para zero, enquanto o Não-ser se avizinha para se fazer eternidade.
Havia nele, isso sim, uma voz discorrendo sem som, flocos de discurso que se
abriam para força de afirmação subsistente, ali onde presença alguma devia ser
consentida»
Assim, Olhares
de Orfeu estaca—grandiosamente, decerto (ainda que eu destacasse, no
conjunto, “O último fio do tempo”, “Hapax” e “A
transmigração”, caso tivesse de fazer tal exercício de preferência) — no
pórtico de uma experiência-limite, o abismo entre trevas. A noite absoluta,
a outra noite. Onde os mistérios palpitam.
Notas:
1
Cito o livro na edição portuguesa da &etc (Edições Culturais do
Subterrâneo), 2013. Quanto a Blanchot, me valho da tradução de Álvaro Cabral
(Rocco, 1987).
2
Os demais apareceram em antologias ou revistas, em Portugal ou na França. “O
grande luto” e “Hapax” (este com outro título, “Névoa sobre
as origens”) são versões bem modificadas, mais sucintas, dos dois relatos
iniciais de Sete contos de fúria, publicado em 2002, no Brasil, pela
Globo Livros.
3
Esse conto faz referência a um pensador de quem jamais li uma linha sequer,
Jules Lequier.
4
Não, leitor, nada a ver com aquele tremendo Best-seller pseudoerótico.




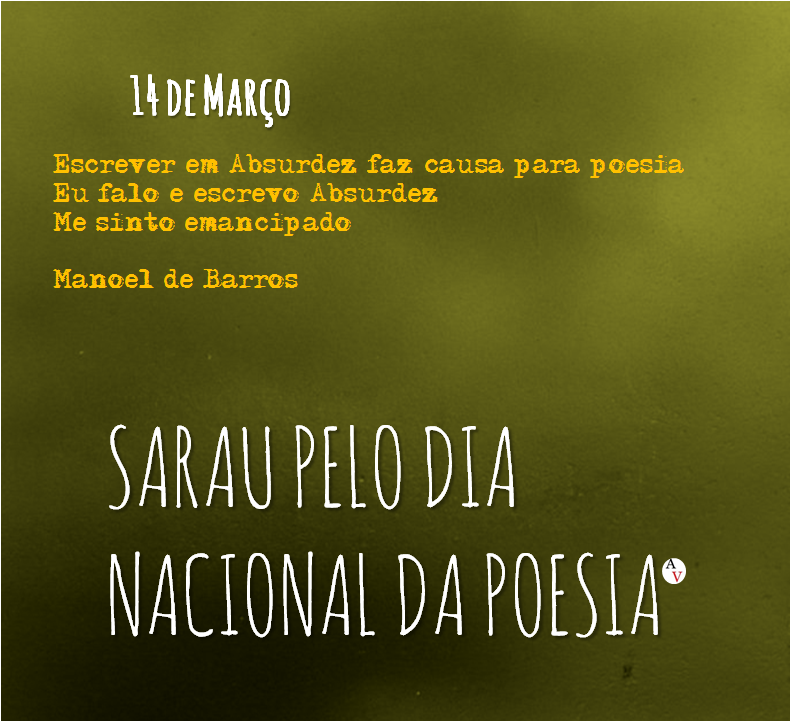

Comentários