As três faces de Nosferatu
Por Emilio de Gorgot

A história do cinema está repleta de cadáveres, e não apenas daqueles com presas. Falo de antigos filmes cujas cópias originais se perderam ou se deterioraram ao longo dos anos a ponto de se tornarem irrecuperáveis. Entre os infelizes finados estão vários filmes de um verdadeiro gigante da cinematografia, o diretor alemão Friedrich Wilhelm Murnau. Sua obra-prima, Nosferatu, também esteve à beira da morte, mas, fiel ao seu tema, retornou do mundo dos mortos.
A produção, o lançamento, o escândalo judicial e o quase desaparecimento de Nosferatu poderiam facilmente se tornar o enredo de seu próprio filme. O projeto foi idealizado por Albin Grau, um excêntrico arquiteto alemão obcecado por magia negra e ocultismo. Em seu tempo livre, gostava de usar túnicas cobertas de símbolos esotéricos e portar espadas cerimoniais. Ele se juntou, é claro, a uma sociedade secreta, a Fraternitas Saturni (Fraternidade de Saturno), onde era conhecido pelo evocativo nome de Mestre Pacitius.
Em 1921, ansioso para que o público aprendesse os fascinantes segredos do paranormal, Mestre Pacitius fundou uma produtora cinematográfica, a Prana Film, com o objetivo de lançar filmes centrados no ocultismo. Decidiu que seu primeiro projeto seria a adaptação do romance Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897. Como o escritor irlandês já estava entre os mortos há uma década em 1921, Mestre Pacitius achou que seria fácil evitar o pagamento de direitos autorais e mudou os nomes dos personagens e dos lugares. O conde Drácula seria renomeado conde Orlok. A ação não se passaria mais em Londres e seria transferida para a inexistente cidade alemã de Wisborg. Também mudaria o título para Nosferatu, uma palavra supostamente romena que Stoker, como outros escritores de terror gótico da época, havia usado, acreditando que significava “morto-vivo”, apesar de ninguém ter encontrado registros históricos de que o termo tenha existido na Romênia. A verdadeira origem do termo ainda é debatida até hoje; poderia vir do romeno nesuferitu (“o insuportável”), às vezes usado para se referir a Satanás. Ou talvez do grego antigo nosoforos, “aquele que traz a peste”. De qualquer forma, esses detalhes antropológicos não preocuparam muito Bram Stoker, para quem o folclore romeno era apenas um recurso de enredo.
E preocupavam ainda menos para Pacitius. O arquiteto mágico convertido em produtor de cinema contratou um jovem diretor promissor em ascensão, Friedrich Murnau, que, aos 33 anos, tinha apenas dois anos de experiência em direção. O filme foi escrito e rodado em 1921 e lançado em 1922. Pacitius, apesar de sua crença fervorosa na vida após a morte, não chegou a pensar na possibilidade de que o plágio descarado pudesse provocar a ressurreição de Bram Stoker como um espírito ávido por vingança. Ou, pior ainda, como um vampiro; o que poderia levar a outro filme: a história da vingança de Bram Stoker! De qualquer forma, a ressurreição do escritor não era necessária porque sua viúva e herdeira, Florence Balcombe, ainda estava viva e se mostrou igualmente desejosa de vingança quando soube que os perversos alemães — contra os quais seu país, a Inglaterra, acabara de lutar em uma guerra sangrenta — haviam lançado um filme que copiava a obra mais famosa de seu falecido marido. Enfurecida, entrou com uma ação judicial buscando indenização monetária.
O mundo do ocultismo, no entanto, opera por suas próprias leis, que estão além do alcance de todo raciocínio e experiência sensorial. Em outras palavras: enquanto o processo judicial estava em andamento, a Prana Film declarou falência, tendo produzido apenas aquele filme. O Mestre Pacitius foi poupado do pagamento de direitos autorais. Florence Balcombe não desistiu do caso e como não receberia nenhum dinheiro recorreu à justiça solicitando que todas as cópias do filme fossem destruídas. O juiz alemão que julgou o caso seguiu o pedido e todas as cópias em circulação na Alemanha foram queimadas. Assim ficamos à beira da perda de uma das obras mais singulares da sétima arte. Felizmente, algumas cópias cruzaram o Atlântico, permanecendo fora do alcance da justiça alemã. O Mestre Pacitius conseguiu o que queria, garantindo seu lugar na história. No século XXI, continuamos a homenagear Pacitius graças a uma obra inteiramente baseada nos talentos de outras pessoas, Bram Stoker e Murnau, e não em seu próprio talento. É o poder prodigioso, sensacional e aterrorizante de Saturno.
Nosferatu fez de Murnau uma sensação internacional. Sua linguagem cinematográfica estava além de qualquer coisa imaginável na época, e ninguém jamais havia visto algo parecido nas telas. Ele ainda era jovem, mas toda uma geração de cineastas se inspirou em Nosferatu (e também em algumas de suas obras subsequentes, particularmente o monumental Fausto, de 1926). Mesmo hoje, o filme ainda é considerado um marco no processo de aprendizagem do cinema. Murnau, infelizmente, não teria muito mais tempo. Morreu em um acidente de carro em 1931, quando os filmes sonoros começavam a dominar a cena, então nunca saberemos como teria sido um filme de Murnau com diálogos falados.
Um dos aspectos mais notáveis de Nosferatu é que ele copia o enredo geral do romance de Bram Stoker, mas envia uma mensagem muito diferente, afinal a mensagem de Drácula já rendeu muita especulação sobre seu possível subtexto. Alguns especulam que o livro expressava a possível homossexualidade reprimida de Bram Stoker, incluindo um suposto triângulo amoroso com sua esposa e um ator por quem o próprio Stoker havia se apaixonado. Por outro lado, o escritor demonstrou veemente homofobia quando seu amigo Oscar Wilde foi preso e condenado por “sodomia e indecência”. Outros autores apontam para a possível natureza xenófoba do texto, visto que a suspeita e a rejeição de imigrantes do Leste Europeu eram comuns na Inglaterra da época. Em última análise, as interpretações são variadas e algumas subjetivas. Drácula pode ser lido como uma condenação da liberação sexual feminina, sendo o vampirismo, transmitido exclusivamente por contato próximo, suspeitosamente semelhante à relação sexual, um reflexo da sífilis. Outros, no entanto, o leem como uma defesa dessa liberação, representando as necessidades da sexualidade feminina de uma forma que não era escandalosa nos círculos literários da época. No entanto, a protagonista feminina é vítima do vampiro, e vários homens de seu círculo a resgatam de seus delírios eróticos e sobrenaturais.
O subtexto sexual do romance, sempre debatido, não pareceu interessar a Murnau nem a seu roteirista, Enrik Galeen. Embora o próprio Murnau fosse de maneira mais inequívoca do que Stoker um homossexual, ele não quis interpretar a história desse ângulo. Seu filme parecia subverter outro aspecto do romance: o triunfo da era moderna, a era da razão, sobre as eras passadas dominadas pela superstição.
No romance, o vampiro existe, desde sempre. Mas ele vem da primitiva Europa Oriental, onde é objeto das superstições de camponeses e ciganos que nunca souberam como enfrentá-lo. Quando o conde Drácula chega a Londres, os homens civilizados, liderados pelo especialista Van Helsing, o cercam por meio de uma investigação colaborativa e racional, uma mistura de trabalho policial e investigação científica. O vampiro é forçado a fugir da Inglaterra e, mais tarde, é caçado e destruído ao tentar se refugiar em sua Romênia natal. Um esquadrão seleto de ilustrados cavalheiros britânicos derrotou o monstro contra o qual os camponeses romenos estiveram indefesos por séculos. A ciência e a razão triunfaram sobre a superstição. O romance, como muitos outros de sua época, é contagiado pelo espírito otimista da revolução industrial e baseia-se na crença de que as maravilhas tecnológicas que caracterizaram a virada do século produziriam, sem dúvida, uma humanidade melhor.
O filme foi escrito e rodado em 1921, em circunstâncias muito diferentes. Entre 1914 e 1918, a Europa viveu a guerra mais sangrenta que o planeta já presenciara. A Alemanha havia sido derrotada e dois milhões de seus jovens morreram no front, enquanto outros quatro milhões retornaram feridos, mutilados ou psicologicamente destruídos. Em 1918, além disso, eclodiu a terrível pandemia conhecida como “gripe espanhola”. Entre fevereiro de 1918 e março de 1919, houve pelo menos 300.000 mortes na Alemanha, quase todas de homens, já que a maior taxa de mortalidade se dava entre os homens adultos.
Nosferatu é marcado por esses terríveis cataclismos. O conde Orlok não é mais apenas um vampiro. É uma calamidade, uma catástrofe, um poder diabólico imparável. Já não recorre tão frequentemente a transformações folclóricas — morcego, lobo ou neblina —, mas move-se convertido em sombras. Nem sequer se parece com um humano morto, como Drácula, mas sim algo mais (o cineasta alemão Werner Herzog, cuja versão discutiremos mais tarde, descreveu-o como “um inseto”). Orlok não dá a impressão de ter pertencido à nossa espécie. Mesmo no início do filme, quando finge ser um aristocrata idoso e excêntrico, não convence como humano. É uma imitação, como se um alienígena estivesse parodiando a essência humana. É uma pobre máscara. É alguém, ou algo, emergindo de algum lugar muito mais profundo e insondável do que uma sepultura. E Murnau, auxiliado pelo extraordinário ator Max Schreck, demonstra isso quando Orlok Ele parece cada vez mais desumano com o passar dos minutos.
O conde Orlok já não se limita mais a sugar sangue, mas seu poder destrutivo atua sobre uma região inteira sem que ele pareça comandá-la. Não escolhe ser mau; é o mal encarnado, e o mal emana dele de forma autônoma. Quando Orlok chega a Wisborg em um navio fantasmagórico cuja tripulação foi exterminada ao longo da viagem, ratos desembarcam ao seu lado, invadindo a cidade e espalhando uma terrível doença. Após a chegada de Orlok, dezenas de caixões desfilam pelas ruas diariamente. Nosferatu é a peste. Assim como os homens alemães no mundo real foram vítimas de forças para eles imparáveis, os personagens masculinos do filme não são mais capazes de deter Orlok, impotentes diante de um poder que não pertence a este mundo. A ciência e o racionalismo que Bram Stoker via como salvação vinte anos antes agora são inúteis. Orlok é uma força sobrenatural, e nenhuma lei do mundo natural pode derrotá-lo. Quem, então, poderia salvar Wisborg do desastre?
Será a protagonista feminina, aqui chamada Ellen, que destruirá o vampiro. Não pela ciência, mas por puro heroísmo: o autossacrifício. Assim como as mulheres alemãs deviam se sacrificar para levar o país adiante, Ellen se rende voluntariamente ao vampiro e o retém até o amanhecer para que a luz do sol possa destruí-lo. No romance, Drácula pode andar durante o dia. A luz não tem efeito sobre ele, e ele é eliminado com um ataque físico: uma estaca no peito e decapitação. O filme trata o conde como uma criatura das trevas, quase uma encarnação de Satanás contra quem nenhum ataque físico é possível. Será a luz, tanto a luz interior de Ellen quanto a luz exterior do sol, a única maneira de neutralizar a escuridão.
Em 1979, o já mencionado Werner Herzog fez sua própria adaptação do filme de Murnau. Ele a intitulou Nosferatu, o vampiro da noite. Mais uma vez, o enredo é semelhante, mas o tom muda. Seu filme é existencialista, com alguns conceitos quase opostos aos de Murnau. O conde Orlok não é mais uma figura satânica, mas um homem morto transformado em um monstro patético, consumido pela melancolia e para quem a imortalidade é uma triste maldição. Orlok anseia por desaparecer ou, se possível, retornar ao mundo dos vivos. Ao contrário de Murnau, o Orlok de Herzog é humano. A obsessão dele por Lucy não é um impulso destrutivo, mas sim uma resposta ao desejo impossível de amar, de se sentir vivo novamente. Este Orlok também carrega a peste dentro de si, embora preferisse não a possuí-la. Aqui, a peste não é mais um reflexo de uma era cataclísmica, mas uma reflexão geral sobre a mortalidade. Durante uma sequência memorável, Lucy atravessa a cidade no auge da pandemia e observa, espantada, uma festa na praça principal. As pessoas cantam e dançam. Há uma longa mesa onde as pessoas comem e bebem, cercadas por ratos. “Esta é a nossa última ceia”, explica um dos comensais. Os homens e mulheres de Wisborg sabem que vão morrer, mas decidem aproveitar ao máximo o pouco tempo que lhes resta. Assim como Dostoiévski se lembrava de ter pensado na ocasião em que quase foi fuzilado: “Viver! Mesmo que seja só mais um minuto.” Pode-se argumentar se este Nosferatu é realmente um filme de terror convencional ou se Herzog estava tentando nos confrontar com um terror do qual não podemos escapar saindo de um cinema ou fechando a capa de um livro.
O estadunidense Robert Eggers dirigiu a terceira adaptação de Nosferatu em 2024 e, como seus dois antecessores, respeitou o esqueleto da história, mas mudou o tom e a mensagem (e sim, aqui vai um spoiler, embora, considerando que a história já tem um século, não acho que vou pegar o leitor desprevenido). Eggers descreveu sua versão como “um triângulo amoroso distorcido”. Aqui, o conde Orlok não é nem uma calamidade cósmica como em 1922, nem o resíduo emocional de um morto nostálgico como em 1979. O novo Orlok é um predador sem sentimentos. É um incapaz de amar, mas também não quer nem precisa amar. O amor não significa nada para ele. Seu relacionamento com Ellen, a protagonista, é o de um abusador e sua vítima. O filme sugere, ainda que de forma ambígua, que Ellen pode ter sido uma criança, ou quase, quando caiu nos braços de Orlok pela primeira vez, movida por sua solidão e necessidade de afeto, embora o conde seja fisicamente repugnante como expressão de sua feiura interior. Para expressar essa ideia, Eggers, conhecido pela obsessão historicista com que documenta seus filmes, revive o conceito tradicional do vampiro como aparecia no folclore antigo: um cadáver em decomposição, uma visão ofensiva.
Ellen é casada com um bom homem, Thomas. Ela já pensou que amava o monstro e sabe que agora não o ama mais. Na verdade, ama o marido, o homem que lhe permitiu sentir-se uma mulher equilibrada. Mas ela não consegue impedir que o vínculo com Orlok permaneça vivo. Ela certamente sente repulsa pelo vampiro, mas às vezes seu trauma se manifesta de maneiras inesperadas, e se vê atraída por seu antigo agressor, mesmo sabendo que está vivendo uma emoção perniciosa e destrutiva (no filme, essa emoção é convenientemente apresentada como possessão demoníaca). Orlok ainda tem poder sobre ela e lhe oferece algo sinistro, porém estimulante, que seu marido não pode oferecer — ou assim ela diz em um momento de delírio. Apesar de tudo, o homem do passado a faz se sentir viva. Esse mecanismo emocional, em última análise, ajuda Ellen a demonstrar sua natureza heróica. Ela sabe que não consegue se livrar completamente da influência maligna de Orlok, mas usa essa influência para salvar o que realmente ama: seu marido. Entrega-se ao vampiro uma última vez, seduzindo-o com o objetivo de aniquilá-lo, enquanto, mais uma vez, os homens ao seu redor são incapazes de derrotá-lo. Embora haja um deles que, pelo menos, entende a necessidade do sacrifício de Ellen, e curiosamente, é o homem que abandonou a ciência pelo ocultismo; sem dúvida, uma referência de Eggers ao contexto do filme original.
Eggers amplifica os tons sexuais da história e os coloca em primeiro plano. É uma maneira de adaptar um de seus filmes favoritos respeitosamente, mas sem cair em cópias dispensáveis. O conde Orlok de Murnau era uma figura satânica, a personificação de todos os males do mundo. O Orlok de Herzog era uma figura consumida pela nostalgia. E o Orlok de Eggers é um predador. Estes são três filmes lançados ao longo de um século inteiro (cento e dois anos se passaram entre o primeiro e o terceiro!), todos ansiosos por transgredir a mensagem original do romance Drácula, e todos os três dignos de admiração e consideração por qualidades próprias. Esperemos que, se algum dia houver um quarto Nosferatu, ele continue a tendência positiva. Ou então, que o Mestre Pacitiuo ressuscite e nos arraste até o fim do mundo.
* Este texto é a tradução livre de “Las tres caras de Nosferatu”, publicado aqui, em Jot Down.
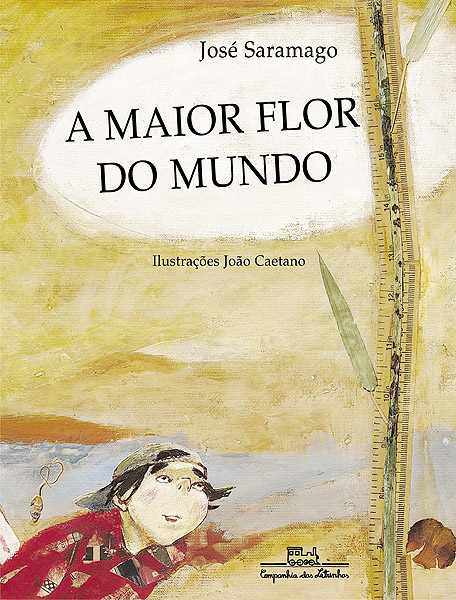

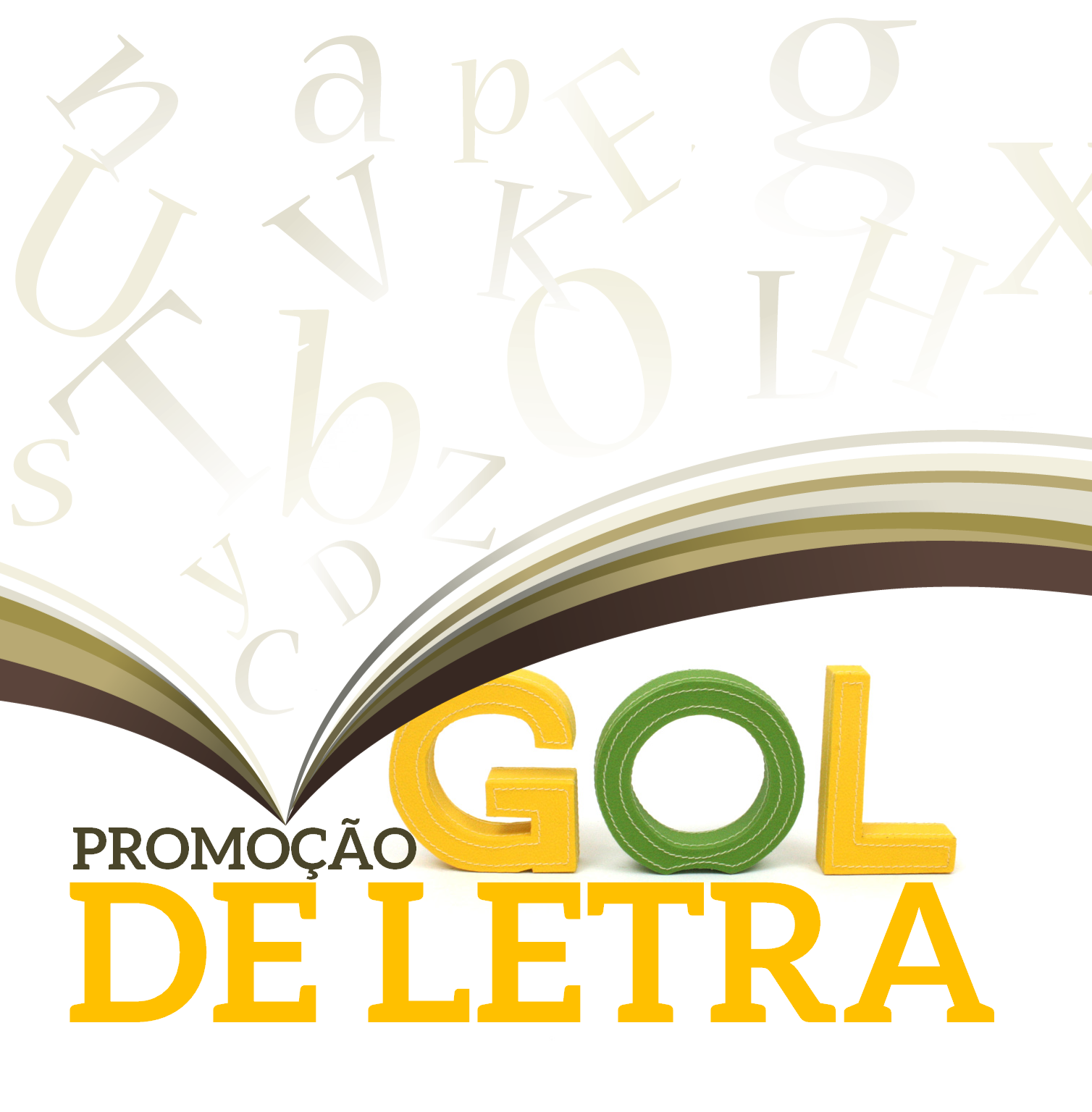
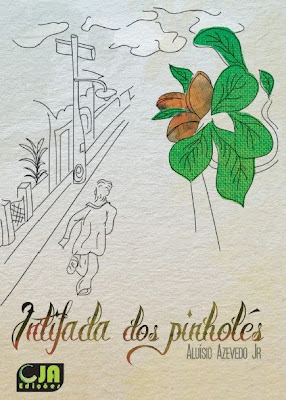


Comentários