O mau selvagem de Lira Neto — que Oswald é esse?
Por Lucas Paolillo
“É inevitável que o biógrafo se pergunte, em alguns —ou em vários — momentos do trabalho: até que ponto ele tem o direito de se esgueirar, sem maiores restrições, pelos desvãos da privacidade alheia? Quando a pesquisa passa a se confundir com o mexerico, a investigação com a fofoca, o estudo com a bisbilhotice? Aprendi não haver balizas definidas entre um território e outro. Tomo como regra ponderar sobre o quanto determinada informação — por mais indiscreta e inconveniente que seja – será relevante para a compreensão do biografado”
— Lira Neto, em “Breve ‘biografia’ da biografia”, 2022.
“Era uma vez
O mundo”
— Oswald de Andrade, em “Crônica”, 1927.
.jpg) |
| Oswald de Andrade em retrato como candidato a deputado federal, 1950. Coleção Marilia de Andrade. Acervo CEDAE/Unicamp. Foto: autoria desconhecida |
Ao se manifestar sobre a atividade dos biógrafos, o experiente jornalista João de Lira Cavalcante Neto, o nosso Lira Neto, costuma mencionar a ausência de produções definitivas. Para ele, cada publicação corresponderia ao leque de questões de um tempo determinado. Nada mais justo. Na trilha dessa compreensão, o faro dinâmico das tentativas, como qualquer outra leitura, faria desse gênero controverso uma espécie de conversa continuada sobre figuras. Há, nesse juízo, uma série de predicados, mas embarquemos, por enquanto, na proposta. Nessa linha, conversaríamos sempre com o tempo. Junto a ele, moldaríamos, desmoldaríamos e remoldaríamos retratos. Posto que estamos diante de seu Oswald de Andrade: mau selvagem (2025), não faria mal começarmos por aí: que Oswald temos então diante de nós? Para início de conversa, talvez um bom suporte para o tira-teima esteja na comparação desse volume com Oswald de Andrade: biografia (2007 [1990]), de Maria Augusta Fonseca.
Não é segredo que tanto um quanto o outro tratam do mesmo objeto e, por isso, as diferenças aparecem mais nas opções para o recheio do que propriamente no conceito da moqueca. Dos trinta e dois capítulos de Oswald de Andrade: mau selvagem (2025), podemos esboçar uma estrutura mais ou menos assim: sete deles vão dos primórdios mais remotos até a garçonnière; três orbitam o relacionamento com Daisy; quatro vão dos antecedentes até a realização da semana; oito abrangem a relação de Oswald e Tarsila do pós-semana a Pagu; quatro falam no interior do relacionamento com Pagu e seus tumultos; e, finalmente, temos outros quatro destinados às duas décadas derradeiras. Se seguirmos esse mesmo modelo de periodização, por sua vez, os dezenove capítulos de Oswald de Andrade: biografia (2007 [1990]) ficariam mais ou menos assim: quatro aos primórdios; um ao relacionamento com Daisy; dois aos arredores da semana; cinco sobre a relação com Tarsila; um aos tumultos com Pagu; e, mantendo a métrica, outros cinco dedicados às duas décadas finais. Por isso, quando comparado em termos de relevo à Biografia (2007 [1990]), a envergadura catatalesca de Mau selvagem (2025) chama a atenção em termos de assimetria ao compactar vinte anos. Por outro lado, pensar o volume de Fonseca frente ao de Lira Neto leva à sensação de que certas passagens, mesmo que escritas no passado, poderiam ter rendido mais desdobramentos, como o forfait político no relacionamento com Pagu.
Nesse sentido, e indo um pouco mais fundo nas diferenças, Mau selvagem (2025) parece ter se dado um pouco melhor quanto aos pontos de partida: bebeu de um acúmulo de material produzido em vinte anos; mais arquivos foram vasculhados — em que pese a indesculpável lacuna quanto a não apropriação do acervo do MIS-SP, espaço repleto de material sobre Oswald, fruto das relações do lugar com Rudá; além disso, a sua prosa caminha junto a um faro político muito bem-vindo, desperto às dinâmicas do poder e à busca por benefícios — penso aqui na formação de sistema que, certamente, as produções anteriores do autor, como a trilogia sobre Getúlio Vargas, exercem como dimensão privilegiada para composição do fundo histórico.
Por sua vez, Biografia (2007 [1990]), embora um pouco menor e já mais antiga, mantém uma vantagem: ela encaixa ao fio biográfico uma montagem mais atenta às especificidades dos textos — não é para menos, considerando que a autora é professora sênior em estudos literários da Universidade de São Paulo. A esse traço-chave é somada a presença de uma sensibilidade mais vagarosa, embora compacta, na avaliação dos deslocamentos próprios às trocas simbólicas entre os artistas, ao nível da filigrana. Nesse sentido, destaco, por exemplo, a abordagem dela aos saraus, aos salões e seus personagens mais laterais, os quais ganham, proporcionalmente, um pouco mais de cores e lugar, como D. Olívia Penteado, madrinha do casamento de Oswald e Tarsila.
Entretanto, na comparação entre os dois volumes, o que chama mais a atenção está numa diferença íntima ao nosso tempo: o declínio aurático no tratamento destinado à figura cavoucada. Nesse caso, Mau selvagem (2025) é consideravelmente mais desinibido no retrato do seu modelo. Um pouco por homenagem rendida ao próprio retratado, ele corta direto na carne. Como resultado, ganhos e perdas: se a menor idealização é um ponto positivo, talvez a demora ampliada em certos ziguezagues da vida privada nem tanto. O que colabora para desfocar o escritor daquilo que é contado, aproximando a montagem do retrato mais das peripécias, digamos, de um agitador que por acaso também publica. Ponto que, a depender da compreensão que se tem sobre Oswald, pode até ser defendido, dado que se trata de um escritor cujos livros guardam desníveis entre o que prometeram e o que entregaram à renovação da literatura brasileira — embora haja contrapontos enfáticos a essa perspectiva, como defendem, por exemplo, os concretos.
Sendo assim, na comparação com Biografia (2007 [1990]), é o volume de Fonseca que parece valorizar mais as artimanhas da criatividade. Nele, como um texto assim não poderia ignorar, temos também os tais ziguezagues na intimidade e nas troças. Porém, forçando o contraste, o retrato se aproxima mais, digamos, do escritor que polemiza. Ainda enfeixados, se aqui temos mais firme o propósito de não nos esquecermos dos motivos pelos quais falamos em Oswald, um escritor, por outro lado, os limites atravessados pela biografia mais recente, identificadíssimos ao nosso tempo de exposições viscerais, sugere alguma ingenuidade no livro antecessor, dado que aquele estava apoiado no ponto pacífico resolvido do lugar de Oswald como artista brasileiro — ambivalente, sim, mas unânime como cânone. Em Lira Neto, no entanto, e talvez à revelia do biógrafo, isso não é tão certo e os dossiês se reabrem a plebiscito.
Esquematicamente, a sugestão do puxa-puxa aponta a um problema do maior interesse: de um livro para o outro, uma tendência de época realinha a recepção do artista e, assim, cai na vida. Para além do tino próprio a cada biógrafo, podemos agregar ao dissenso algo que estava no ar: tomemos, por exemplo, o que ocorreu com o tão esperado centenário de 1922. Quer dizer, seja em 1990 ou mesmo em 2007, poucos seriam aqueles que apostariam numa relevância menor a uma comemoração tão aguardada. Corte para 2022. Saída sofrida da pandemia, morticínios acumulados, florestas em chamas, o escambau. Fruto tóxico despertado pela crise de 2008, esse corte de época tatuado na nossa pele, sobreviventes aos desmandos milicianos. Desse modo, os cem anos da semana — ou, pior, o segundo centenário da Independência — só poderiam perder o vigor da comemoração frente ao terror convulsionado. Tentativas brotaram aqui e ali, mas o entusiasmo ficou um tanto fora de mão. Brinde difícil quando o entorno dizia não à celebração anacrônica do velho modernismo. Não parece despropositado lembrar que, de uma maneira ampla, a escrita de Mau selvagem (2025) atravessou esse turbilhão.
Seja como for, da vida ao texto, a comparação entre os dois livros fica mais evidente quanto mais nos atemos às diferenças nas maneiras de contar. Enquanto o primeiro capítulo de Lira Neto apresenta Oswald junto à iniciação do personagem na prática do onanismo — opção ousada, dotada de alguma artimanha, mas que se justifica para além da sintonia com o nosso clima de desrecalque, dado que conversa com declarações do biografado sobre lembranças remotas e sentido da escrita —, o primeiro capítulo de Fonseca descortina uma aproximação atenta mais às estruturas conformadoras, como a transição do Império ao regime republicano, pós-Abolição. Sobre esse abismo temático, nada de moralismos, por favor — seria um fim da linha em termos de Oswald. Porém, em suas escolhas, ambos passam os seus recados — e os recibos de seu tempo.
Saindo dos termos mais imediatos da comparação, brota inadiável a conversa com um conjunto de advertências cravadas por Antonio Candido em “Estouro e libertação” (1945). Naquele ensaio, resultado da junção, com reparos, de outros dois, o enigmático rapaz de Poços nos diz: “É preciso, antes de mais nada, e em atenção aos estudiosos do futuro, destrinçar, nele [Oswald], o escritor do personagem de lenda, pois não resta dúvida que há uma mitologia andradina. Mitologia um tanto cultivada pelo herói e que está acabando por interferir nos juízos sobre ele, tornando difícil ao crítico contemporâneo encarar objetivamente a produção destacada do personagem, que vive gingando em torno dela, no desperdício de um sarcasmo de meio século. Tenho quase certeza de que o público conhece de Oswald de Andrade apenas a crônica romanceada de sua vida, as piadas gloriosas e a fama de haver escrito uma porção de coisas obscenas. Poucos escritores haverá, tão deformados pela opinião pública e pela incompreensão dos confrades. Em relação à sua obra, os críticos raramente tentam um esforço de simpatia literária, colocando-se acima dos pontos de vista estritamente pessoais. Impressionados com o caráter personalista que ele assume nas suas relações literárias, agem da mesma forma em relação a ele. Consideram-no objeto de ataque ou aceitação e correspondem deste modo, consciente ou inconscientemente, ao esforço que ele faz para arrastá-los à polêmica, seu terreno querido. Ora, é necessário rejeitar este esquema simplista e fazer um esforço sinceramente objetivo, livre do fermento combativo característico da sua personalidade”. Ou seja, diante de Oswald, disse Candido, seria mais recomendável discorrer sobre os enigmas na sua escrita do que propriamente sobre o folclore em sua vida literária — coisa que as biografias a respeito dele, não tem jeito, não fazem outra coisa senão organizar com pingos nos is.
Assim, nos termos de “Estouro e libertação” (1945), biografar Oswald não seria flertar com uma arapuca? Sem pretensões de resposta, a interrogação é convite a ser sustentado como nota tensa. Matizando, de meados dos anos quarenta até nossos dias, muita água passou por baixo da ponte. Candido mesmo, em seu tempo de vida, expandiu o leque de abordagens sobre os modernistas na academia e deu rumo aos entalhes memorialísticos das pessoas de seu século, de olho no testemunho. Porém, na medida em que Oswald é convocado, a advertência que ressaltamos continua difícil de desvencilhar. Talvez uma saída generosa fosse a seguinte: se o reforço da mitologia andradina teve no próprio alvo das fofocas um dos artífices mais empenhados, empreitadas como as de Lira Neto e Fonseca guardariam o mérito de articular manobras elucidativas. Ainda que dependam do tratamento, biografias podem colocar informações de fundo para jogo, dado que abordagens de teor supostamente mais hermenêutico podem mobilizar projeções inventivas como piso ou assumirem, de barato, boatos falsos como mediações.

Diante dessa saída, talvez a maior dificuldade esteja nas armadilhas próprias ao gênero biográfico, esse entrelugar repleto de ardis. Nessa rota, e pousando diretamente no volume de Lira Neto, os autofalantes alertam: o bioma predominante é a salada mista. No volume, as estruturas dos capítulos são preenchidas com flutuações variadas de fontes, sentidos e condução da atenção. Processo apoiado em pesquisas acadêmicas, crônicas, materiais de todo tipo liquidificados em formato narrativo — em geral limpo —, uma vez que os gestos de narrar perseguem expressão literária. Assim, são tantas as camadas que uma crítica judiciosa não é tarefa das mais simples. Tomemos por exemplo, o uso da correspondência inédita, informação nova da pesquisa, que aparece na medida em que se encaixa com o suspense no capítulo. O que, atenção, não quer dizer ausência de método: em Mau selvagem (2025), os capítulos se erguem, no geral, através de textos-base — em geral crônicas de Oswald, mas nem sempre — que se encadeiam e ganham dimensões outras junto a mais entradas de texto.
Contudo, cada capítulo, em sua estrutura, apresenta propostas nucleares e elas nem sempre foram bem equilibradas. Talvez um dos mais significativos pontos de reparo nesse sentido esteja ao destinado sobre a relação com Isadora Duncan. Em que pese o livro ter se proposto a resolver por A + B o mito do relacionamento entre ambos, e ter sido bem sucedido nisso, talvez dedicar uma das trinta e duas entradas que perfilaram uma existência como a de Oswald a isso não fosse a melhor escolha — seria aquele episódio tão determinante assim ou poderia caber em dois parágrafos? Ainda ecoando “Estouro e libertação” (1945), temos perguntas: em termos de relevância, e considerando o escritor, o que se agrega de tão fundamental ali para além da puxada de máscara que, no flagra, faz o falso fazer coro ao anedotário do “Eu menti”? O prazer de desmontar a diatribe através de um bom causo? Costurar um lento bordado de textos de jornal a serem lembrados depois? Em todos os casos, ainda que ali Oswald tenha expandido sua rede de relações, certamente há peixes melhores no mar do Cedae.
Mudando um pouco o eixo, embora continuando nas veredas da construção do livro, vale mencionar que, nele, a relação entre pesquisa e narração guarda janelas de depuração — a gentileza de distribuir a trilha de pão ao longo das notas de rodapé. Sendo marcação de seriedade e compromisso, as referências nos oferecem o chão no qual tateamos mais solidamente o encadeamento dos documentos e das fontes – discriminados, de modo geral, ao final do livro. Para os pesquisadores, eles funcionam como a âncora, o contraponto ao mar revolto da ficcionalização da narrativa, e servem à espiada na cozinha para além da volubilidade do garçom. Entretanto, no corpo do texto, a variedade, a riqueza e a complexidade das fontes se acoplam a uma vertigem que tende a nivelar e indistinguir comentários, reflexões, fontes e coreografia de estilo. Lendo o volume com firmeza, como lidar com isso? Penso nos mestres, como um François Dosse ou um Martin Jay, que driblam o arbitrário com a fundamentação interna da composição. De todo modo, a depender do gosto do freguês, o processamento dessas informações arquitetam um panorama descontraído, mais voltado à atenção flutuante do grande público do que aos maníacos versados em Oswald.
Em meio a tantos desafios, é preciso assumir que há personagens difíceis de serem biografados. Oswald, certamente, é um deles. Se não bastasse a dificuldade em conciliar a costura do texto com as propriedades de um escritor de vida intensa, a passagem mesma do tempo remodela paulatinamente as condições de possibilidade para a prosa. Diferentemente dos personagens do poder, de escritores oficiosos ou então de pessoas com depoentes de sobra, não temos, nesse caso, despachos ou um número significativo de testemunhas. A vida pública de Oswald foram seus escândalos íntimos e suas contribuições como escritor — esse narrador que, sim, falava de si e, como passagens da biografia fazem lembrar, não merece confiança. Para além dela, temos pesquisas sobre seus escritos e itinerário — essas acumulam montantes de papel enormes —, memórias, imprensa da época e acervos com pertences, correspondências, e alguns originais — materiais que talvez calhem mais a outros tipos de pesquisa do que biografias.
 |
| Lira Neto. Foto: Renato Parada |
Mas deixemos de puxar a orelha de um escritor consagrado como Lira Neto. Já aventamos alguns dos efeitos do relógio ao longo do texto e, frente a ele, medidas de efeitos diversos. Somaremos a elas apenas outras duas como proposta de leitura que, em conjunto, se pesam: se, por um lado, o caráter dessa composição tardia alcançou, para o bem e para o mal, a demolição de certo tratamento empolado ou pedantesco que acomete, por exemplo, o documentário Semana de Arte Moderna (2002), da TV Cultura, de um formalismo ridículo e em tudo oposto aos modernistas; por outro, a impressão que fica é a de que talvez esse señor livro tenha chegado ao público tarde demais, expressando talvez mais uma reparação de fôlego sobre algo que a vida simplesmente não fez — mais um desejo de biografia, costura sagaz e aprimorada de uma história já contada muitas vezes, do que, digamos, o marco zero de uma biografia.
E assim voltamos — apesar de não termos jamais saído — ao tema da perda da aura. Jaula de ferro, a racionalização em torno do material que compõe o corpus demanda sempre aproximação cum grano salis — puxa, gastei o latim. Não falta, sabemos, gabarito e competência do autor para isso. Porém, que/quando/onde/como se pretende repovoar o passado? Boa parte das discussões mais avançadas hoje sobre arquivismo tematizam os efeitos práticos da racionalidade obsessiva e progressivamente direcionada à vida privada. Impactos que vão desde a relação entre Estado e sociedade até a dissolução por dentro dos parâmetros públicos. Diante disso, talvez o sentido mais frutífero a ser cultivado até os nossos dias sobre Oswald continue a ser aquele apontado por Candido em “Estouro e libertação” (1945): a produção escrita — o verdadeiro manancial daquela herança sem testamento e, em larga medida, até hoje tomada pelas vírgulas de especialistas ou pela leitura das beiradas, apressada.
Dito isso, apoiado ou não na contribuição milionária de todos os erros, é preciso ressaltar que esse Mau selvagem (2025) de Lira Neto é um feito e tanto. Prova disso está no empenho em recuperar documentos, como as cartas e as crônicas fora de circulação ou então as fontes de arquivo mais substanciosas — como o tal do Livro da convalescença ou o diário e os cadernos de Miss Cyclone; outra prova disso está também nos esforços de maior significação investigativa, como os empregados no envolvimento com assuntos tais como os movimentos da fortuna oligárquica da família Andrade; o lento desenho e o contexto de escrita de livros como Memórias sentimentais de João Miramar (1924) ou Serafim Ponte Grande (1933); a caracterização consequente, um panorama plural, da relação de Oswald com a política e o Partido Comunista; a atenção às fases diversas dele como cronista; e, enfim, o esforço para colocar a nu inúmeras contradições — dentre elas, destaco, embora seja conhecida, a inflação modernista na autoleitura do próprio escritor, um parnasianinho travesso, quando jovem. Assim, de peneira na mão — atentos às notas de rodapé —, ainda que possamos nos perguntar sobre o sentido, as condições e os procedimentos de um livro plural como esse, o fato é que a busca do biógrafo por repovoar o passado fez com que, na luta contra os seus moinhos de vento — amor às causas perdidas que também compartilho —, ele não apenas pusesse mãos à obra, mas escrevesse aquela que talvez seja a biografia definitiva de Oswald, hoje mencionado mais pela vulgarização do conteúdo dirigido aos vestibulares do que efetivamente lembrado como o escritor de tudo aquilo que revolveu.
______
Oswald de Andrade: mau selvagem
Lira Neto
Lira Neto
Companhia das Letras, 2025
528 p.
PS: Caso a resenha chegue ao autor, não posso deixar de mencionar que fiquei muito satisfeito por ter colaborado, de algum modo, com a biografia e, por isso, agradeço a menção honesta ao meu humilde livrinho sobre Sérgio Milliet (2019) — feito com coração e empenho, apesar de escrito em verdes anos. No entanto, pensando nas futuras edições que certamente virão ao Mau selvagem (2025), não posso me furtar a deixar o pedido para que corrija, se possível, a menção a ele na parte destinada à bibliografia. Ali, a referência foge às informações prestadas na ficha catalográfica.

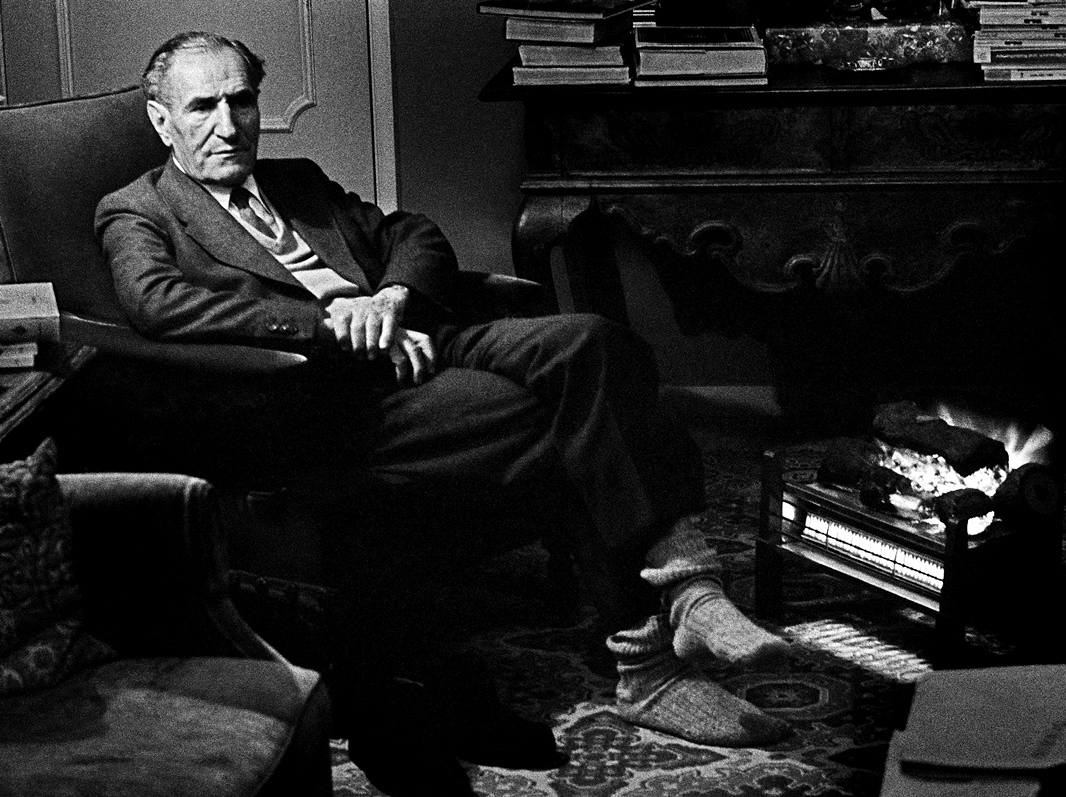




Comentários