Por Lucas Paolillo
Enfim, como outros tantos rincões,
em Tamoio, os trabalhadores, os moradores, as criaturas em estátuas e memórias
foram cobertas pelo tapete verde na imensidão de canaviais que absorvem o
interior paulista. Tudo de uma maneira rápida e nada silenciosa. A usina Tamoio
foi engolida pela ventania atroz de um tipo de desenvolvimento da produção da
vida que não leva em conta a criatura humana. Quem sabe, como o engenho
Fortaleza e outros sítios adquiridos por Morganti para a formação da
agroindústria. No entanto, nessa terra de passagem nos dispomos a admitir a
promessa de outros renascimentos. A busca de outras terras onde pudéssemos
expor todas as nossas potências. Não perdendo, nem nos momentos de maiores
arrasamentos, a miragem do porvir.
— Hélvio Tamoio, “Algumas
considerações afinam” (2008)
 |
| Foto: Silvana Simão |
Nos dias que correm, Hélvio Tamoio
continua a buscar a produção crítica consciente. Continua também, junto a
outros fazimentos e ações culturais, a escrever livros ligeiros para serem
saboreados lentamente. Passadas quase duas décadas da data de publicação do
primeiro deles, podemos entrever naquele uma possível convergência histórica,
repleta de significados. Quando Hélvio Mori de Jesus, nome de batismo, tomou a
decisão um tanto intempestiva de revisitar a sua crise de origem, a saber, a
formação e decadência da usina Tamoio — um processo que os jornais vieram a
agregar ao próprio nome de Hélvio, rebatizando-o com essa cicatriz por causa do
seu papel de liderança nas greves canavieiras —, a coincidência de tempos não
poderia ser mais adequada.
De fato, as suas considerações
algumas afinaram com outra crise no ar: a crise do subprime, crise (se é
que ainda podemos falar nesses termos) definitiva do nosso tempo e que, como as
outras, não leva em conta a criatura humana. Distraidamente ou não, pouco
importa, o pequeno O nó da cana também dá garapa (2008) veio ao mundo
como quem fez um acerto de contas com o próprio passado. No entanto, ao
descrever como uma região inteira pode sumir do mapa do dia para a noite,
acertou em cheio no próprio presente: findo o ciclo de gestor da Funarte,
Hélvio, um anti-herói que poderia ter saído do cinema marginal — outra
identidade atribuída a ele por matéria de jornal, mas que cai bem como identificação
ampla do roteiro da vida que ele escreve —, mal poderia imaginar que dali para
frente as crises se tornariam, no mundo todo, regra. Sendo tantas, até o
Império, vejam só, fez a sua própria versão de uma frase comum às faixas nas
greves em Tamoio, nos anos oitenta: “queremos voltar a trabalhar”. Elas por
elas, a América do Norte parece ter arrumado um Grupo Silva Gordo — disfarçado
de Morganti? —para chamar de seu e pegar no volante das falências nos novos
ventos: o jogo baixo dos ajustes, independente dos caminhos, anuncia mais
ruínas que virão frente aos novos padrões produtivo-tecnológicos do
capitalismo.
E as convergências não param por
aí. Mas, antes de voltarmos a elas, um parêntesis explicativo: se o anunciar dos
novos padrões produtivos marcou o fim da usina, ele também acertou em cheio no próprio
Hélvio: cabra marcado para ser cortador de cana, na rabeira das transformações de
época, tornou-se um agitador de várias frentes da cultura. Efeitos mistos da flexibilização
do capital? Acredito que sim, embora o excepcional no personagem não pudesse
surgir sem muita luta e mão estendida. Seja como for, retomando nossa linha do
tempo, anos depois de exposta a crise do subprime, o terremoto levaria tanto
ao primeiro Trump quanto ao golpe parlamentar de Michel Temer, com o Supremo e
com tudo.¹
Na rolança desses dados, Hélvio lançou
o seu segundo volume impresso: Quem faz arte deus castiga? (2016). No
interior dele, nem tanto as ruínas da usina e mais os souvenires de seus
aprovisionamentos culturais recentes — muitos deles reunidos no portal de
textos online do Paracatuzum, o seu fluido agrupamento-miragem² —, dispostos ali
como amuletos-práxis de suas passagens e realizações. Estamos, portanto, nos
tempos de colheita de quando aglutinou jovens em torno de seu slogan-tríade “arte.cultura.pensamento”.
No mérito da questão, a ação
cultural ampla — e um frio na espinha, sempre ele, em muito sintonizado com os
capítulos que apareceriam nos anos seguintes, ciente de que dos anos oitenta para
depois muita água passou e a cultura, como dito numa pichação, não estava muito
bem. “Em que porta iremos bater? Até quando nos abundaremos em balcões, agrados
e editais governamentais?”, diz Quem faz arte deus castiga. Pouco tempo
depois, ironia do destino, todo o setor de políticas culturais seria levado ao
olho do furacão: “queremos nosso ministério de volta!”, a palavra de ordem lançada
pelos remanescentes das franjas do show Opinião, dirigentes das novas gerações
de não-agronejo. Na linha do “quanto mais eu rezo mais fantasma me aparece”, Temer
parecia reverberar sardonicamente as sentenças laboriosas de Dona Nica, a mãe, dirigidas
no passado ao jovem Hélvio: “E aí mãe, castiga mesmo? De que arte a senhora
estava falando? Que deus castigador é este?”.
Como se essas duas convergências
não bastassem, haveria uma última, porém de proporções invertidas: passada
aquela fase, o processo de fazimento dos novos registros instantâneos de Hélvio
fermentava como parte de uma longa caminhada que visava atravessar o país e
algumas localidades da América Latina. Tudo certo até que uma pandemia letal se
esparramou por todo o planeta. Confrontado com a nova condição, o terceiro
projeto escrito, Pra onde for mais longe daqui (s. d.), ficou em
compasso de espera. No ápice da itinerância que o livro ecoaria, o mascate de
ideias se viu obrigado a dar um cavalo de pau do oitenta ao oito: o tempo era
de recolhimento e sobrevivência.
Acomodação jamais. Hélvio deixou o
projeto de lado e, no lugar, fez mais de trezentas lives para quem
quisesse ver, em espírito de cineclube. O roteiro traçado para atravessar o
lamaçal investiu esforços no ajuntamento: as rodas de conversa deveriam manter
a chama acesa. Com isso, senha experiente, anteviu aglutinações futuras para a
manutenção da existência. Finda a travessia, do final da pandemia aos nossos
dias, o terceiro volume, porém, ficou pelas gavetas.
Mesmo assim, alguns sortudos
puderam acessar parte das ideias projetadas a partir de arremedos:
modelos-piloto artesanais, feitos sob encomenda, apareceram aqui e acolá sob os
nomes de BruacaZine (2021), confeccionado em papelão, e AlmaZine (2022),
cartões de correspondência. Embora não definitivos, os dois deram alguma
notícia dos anos de andança. Neles, se falou mais alto do que os outros em nome
dos fanzines, essa forma miúda e irrequieta íntima aos escritos do nosso autor desde
os tempos espontâneo, digamos, de geração mimeógrafo, na usina de cana-de-açúcar.
Por falar nisso, é preciso que se
diga, as formas miúdas e irrequietas formam de diferentes modos o ingrediente principal
por trás da montagem dos três projetos de livro mencionados. Tomadas no
interior de cada unidade separadamente, são elas que saltam das sacolas do nosso
mascate de ideias como pequenos artigos exóticos — algo entre um bazar de
formas e uma versão cigana, reduzida, da obra das Passagens (1982) de
Walter Benjamin. Munido deles, e ciente das estaturas, Hélvio os acopla ao que chama
de “livrozines” — nem um nem outro, mas livro que te quero zine e zine que te
quero livro.
Junto a alguma farra tática
bem-humorada, a compreensão desses livrozines tem uma chave: o arranjo de
montagens. Disposta nas páginas aceleradas, são indícios sucessivos e
interpenetrados: alas são abertas por um relato do passado, em seguida aparece um
ditado, depois uma citação de livro, surgem então roteiros de viagem, causos
captados em convivência, canções populares, pequenos poemas, aparece de tudo.
Tudo sem explicação, entremeado por colagens travessas que valorizam o múltiplo
no imediato: caricaturas, fotografias, depoimentos de terceiros e, em certos
casos, até a colagem de objetos recolhidos por onde passou. Desse conjunto, poucos
elementos fogem à estatura das miudezas como fogem os desenhos a lápis —
coloridíssimos e de alto contraste, algo entre o Brasil profundo e a desproporção
new wave — e, é claro, o tal do “estilo empesteado” do autor com as suas
“palavras infestadas”: em certos momentos glauberiano e estrambólico, noutros sutil
e desconfiado, sua assinatura investe nas meditações de dentro, sem, com isso,
deixar de surpreender, ser serelepe.
Por fim, um elemento surge como a cola
própria ao arremedo pouco casual: o design gráfico. Maestro dos outros, é
ele quem transforma a sacola do mascate de ideias em livrozine, reverberando a
visualidade intrínseca ao personagem. Essa é a cama do ziriguidum que zonzeia,
o método de amarração dos cacarecos do mascate. Daí certa impressão de
estranhamento: em partes, o conjunto da ópera complica e faz subestimar o
conteúdo; em partes, ele não poderia se adaptar melhor à vocação agregadora à
mostra. Lembrando outra vez que forma é conteúdo social sedimentado, “amarrar” surge
ali como palavra precisa.
Arrojado, Hélvio não se contenta
com o batismo da forma livrozine, esse princípio ordenador das caminhadas. O
gênero dos seus volumes também ganhou um nome: roteiros nas passadas do mundo, seriam
bordados a partir de exercícios de “amarramentos”, uma modalidade que se quer
recusa à imaginação de fundo falso pois ancorada na provisão de vidas: “A
amarrativa é uma natureza de prosa que não se põe ensaios, teses ou
monografias. São trocas vivas e diretas ampliadas pela volúpia de viabilizar
rodas em praças, escolas, sindicatos, cineclubes e outros cantos onde possamos
prosear, filmar, dançar, encenar, escrever, cantar e outros mais”, sugere. É
por isso que a compreensão dos seus livrozines afirma sentido: de dentro para fora
ou de fora para dentro, coloca para dançar as lembranças de um catálogo de
práticas através de miudezas igualmente irrequietas.
Aos que não o conhecem, os poucos
parágrafos acima dão um pouco do tom versátil do personagem que assinou os
livros. Francisco Alves — não o cantor, porém o professor-engenheiro do
interior paulista — arrematou a questão ao dilapidar o óbvio ululante: “É muito
difícil falar sobre o Hélvio, ou sobre o Tamoio, como ele é também conhecido. A
dificuldade reside na extrema facilidade com que ele transita do campo para a
cidade, da agricultura para a indústria e os serviços; da produção material de
bens e serviços para a produção artística e cultural, e nesta, das
manifestações folclóricas às contemporâneas, da Catira ao Hip Hop”. Ainda que o
depoimento fique rente à linguagem dos ofícios, voltado a práticas de um mundo que
é pretérito à centralidade negativa do trabalho, ele reforça as linhas gerais
do nosso argumento.
De um modo como de outro, na
oscilação entre o campo e a cidade, Hélvio continua a ser, solamente,
cultura e política. Entre as duas palavras, toda uma condição dificílima de
explicar que não cabe a um texto como este, voltado apenas aos escritos. Por
enquanto, basta dizer, seguindo os trilhos de uma matéria de jornal, que a vida
dele não só daria um filme como deu: O nó da cana também dá garapa (2018)³
é um curta-metragem que registra o retorno do anti-herói às ruínas da velha
usina. Dirigido por Marco Escrivão, ele mostra, descontraidamente, o trilho
dessa versatilidade junto às mudanças de época.
Em sobrevoo incompleto para abreviar,
podemos dizer que Hélvio vestiu em suas profissões macunaímicamente quase todas
as peles: formado em Ciências Sociais com especialização em Engenharia Agrícola,
foi varredor de barbearia, carregador de marmita dos canavieiros, virador de
saco de açúcar, cobrador de ônibus, balconista, assessor de imprensa, redator
de rádio, radialista, colunista, ator, produtor de filmes, professor de
filosofia, oficineiro e, por um bom tempo, desempenhou diversas atividades de
gestão cultural. Dentre elas, tantas que enxugaremos, temos sua gestão como diretor
do Centro de Programas Integrados da Funarte e seu papel como coordenador do
Centro de Referência da Dança.
Ao que nos interessa, enredado nos
contrastes de tanta dualidade (sem dualismo?), o mascate sugere, a partir de si
mesmo, passagens contínuas — das quais é um legítimo representante — entre os
resquícios ativos da tradição militante e da agitação cultural. Mas sempre,
como é de seu feitio, com uma bela de uma pulga atrás da orelha, desconfiado tanto
de uma como de outra. Talvez essa vocação para pôr em dúvida — que leva a
imaginação a lembrar da astúcia dos matutos — justifique a preferência pelo
ensino de filosofia nos anos de professor. Sem ficarmos com a língua de fora, basta
dizer que, nos dias que correm, Hélvio segue percorrendo os interiores do país,
incentivando a formação de cineclubes através de oficinas e palestras.
Entre tanta peripécia, a comprida,
ainda que compacta, relação de Hélvio com os livros começou para valer com uma
história de amor. Adolescente, foi frequentador da Biblioteca Municipal de
Araraquara, fundada por Mário de Andrade. Não ia ali tanto pelos livros, mas
sim por um rebuliço despertado no peito quando se aproximava da bibliotecária,
décadas mais velha. Apaixonado por aquela figura exótica ao padrão dos
canaviais, o mundo pareceu se expandir. Das mãos dela, recebeu um dos livros
derradeiros: Cem anos de solidão (1967), de Gabriel García Márquez — muito
explicativo, aliás, de traços da personalidade dele.
Vencida a indisciplina inicial,
encontrou no realismo fantástico do escritor colombiano parte do sentido da
própria vida: de repente, as vivências todas na usina, com os pés no chão, passaram
a levitar bem lastreadas, ganhando em estatuto de poesia e densidade
imaginativa, vida aberta e possibilidade – e quem diria que aquele mesmo rapaz
viria a fundar, no futuro, algumas livrarias? Ao entrar no curso de Ciências
Sociais na Unesp de Araraquara, a bússola foi Os parceiros do Rio Bonito
(1964), de Antonio Candido. Livro que não só deu legitimidade à dura realidade
que conhecia bem, mas conferiu um repertório adensado às suas lutas, municiando-o
para encarar conscientemente os desafios próprios às relações agrárias de um país
pós-colonial que, digamos, castiga com monocultura.
Para além deles, logicamente, muitos
e muitos outros livros de cabeceira – vale menção também a relação precoce, no
teatro, mantida com Morte e vida severina (1956), de João Cabral de Melo
Neto. Entretanto, se ficarmos atentos apenas aos dois primeiros, teremos o
suficiente para uma boa compreensão inicial da régua e do compasso basilares do
nosso anti-herói. Nesse quadro, demarcando a oscilação do campo à cidade, o
único ajuste passa pelos filtros de época: não seria justo deixar de mencionar
as marcas da cultura-sacanagem underground própria à virada dos anos setenta
aos oitenta, o período-chave que, na pele e nas retinas, liquidifica em Hélvio
as cenas calientes de Helena Ramos, Plínio Marcos, a poesia marginal e a
moçada do Lira Paulistana.
Tudo isso, no entanto, aponta aos
facões em punho na jornada do autor, abrindo mato. Se nos ativermos ao ambiente
constrito da usina, ao involuntário, ganha visibilidade outra combinação marcante
de culturas. Nesse sentido, o primeiro livrozine é significativo. Quem se
aventurar a se perder pelas veredas de O nó da cana também da garapa
(2008) encontrará, desde a capa, as ruínas de uma estátua de Apolo, neoclássica,
devorada pela vegetação em meio ao canavial sem gente — spoiler: ao
atravessarmos a seção “apólogo”, constatamos que a estátua viria a ser
profanada, aliás de modo hilário, em condições que fazem cócegas a quem conhece
o caso do Cavaleiro de Bronze, de São Petesburgo.
Contraintuitivamente, a
ambientação ali não era só austeridade. Junto ao Apolo, outros monumentos
peculiares coloriram a paisagem daquela propriedade rural de trabalho pesado,
perdida na estrada: a estátua austera e quase fisiculturista de um indígena
tamoio, cuja relação entre forma e conteúdo faz lembrar José de Alencar; o
modelo hollywoodiano da casa-grande, um desejo de réplica exata da mansão de E
vento levou (1939); o campo de futebol, moderno e faraônico, inspirado em
arquitetura fascista; e uma igreja algo nababesca, dedicada a S. Pedro, com
entalhes decididos a confundir a imagem de dois pedros: a do santo com a do falecido
patriarca Pedro Morganti. Tudo indícios dos caprichos daquela família de donos,
os Morganti, que fazem lembrá-los como um pastiche bisonho do padrão Habsburgo
de perfumar majestade. Tudo ali, no canavial. Cultivada por décadas, aquela
grandiosidade austríaca em miniatura apontou a um futuro completamente paralelo
ao destino que a modernização sem o moderno reservaria, de fato, à usina: a
venda fria daquele espaço com focos dilatadores de pupilas ao Grupo Silva
Gordo, o ponto final da comunidade que chegou a ter doze mil moradores
multiétnicos, entre emigrados e migrantes das mais diversas localidades.
Aterrissando de volta ao livro, é
na descrição desse processo que o círculo se fecha: se, na capa, admiramos as
ruínas de Apolo, logo em seguida somos inundados por uma profusão de manchetes
de jornal, inversamente proporcionais aos ideais de beleza harmonizados entre
os de ordem no trabalho derivado da cana. Ali, a retina se ocupa de confusões,
greves e expectativas de fechamento. Mudança de ângulos relâmpago que dá a ver
as tormentas, em testemunho, do autor.
Mantendo em mente essa estranha educação
pelo contraste experimentada na usina, o desfile de formas miúdas e irrequietas
sugere uma afinidade estranha — talvez irônica? — quando visto junto ao apelo
de grandiosidade desmoronado do assunto: tudo aquilo, no geral, foi reduzido a
causos e amuletos. Sendo assim, o ponto de encontro entre a experiência do
livro e a dos canaviais não se encontra apenas na proposta de representação,
mas, sobretudo, na propensão, em suas escalas, aos estímulos variados. Dito
isso, cada uma daquelas formas guarda, no livro, o seu próprio sentido enquanto
traço constitutivo. De olho, por exemplo, nos desenhos feitos com pincel
digital, desenhados em softwares de edição que em algum momento chegaram
a ser top de linha, vemos uma conversa interessante, involuntária, sobre
o sentido demolidor do progresso.
Frente aos novos padrões
produtivos, a novidade de então foi superada como foram os velhos monumentos. Porém,
entre tantas sugestões, o leitor persistente encontrará naquele emaranhado de
textos e imagens certa regularidade: o ritmo das sucessões desde logo mostra
que um texto se assume como âncora, algo como um frame de retorno no efeito
Kuleshov. Tudo fatiado por expressões outras como citações, poemas e fotos
recolhidas de fontes variadas – elementos propositivos como pausa e convite à
meditação —, temos fragmentos argumentativos lineares sobre a formação e decadência
da usina.
Quando eles terminam lá para a
metade do livro, a ancoragem passa aos textos curtos — como o causo da fiscalização
de Morganti contra os cigarros de palha dos canavieiros –, chega até os
depoimentos e termina nos trechos salientes, em destaque para as fotos. Há,
portanto, o tal do ziriguidum, porém sob o ritmo de uma diminuição paulatina do
volume da prosa condutora. Junto e misturado, o precioso são as alternâncias: imediatas
e repentinas, elas nos convocam a experimentar posturas analíticas, meditativas
e prosaicas a depender daquilo que nos saúda.
Feito o ajuste de contas, o volume
seguinte, Quem faz arte deus castiga? (2016), faz a passagem do
determinado para a determinação em mãos, irradiando um ciclo de fazimentos
completos agora vertidos em providências na busca por nascentes: “Se antes o
desvendamento se pautava pela exploração da caverna dada, aqui atravessamos o
rio”, sinaliza. Na ânsia pela fluência, a forma do texto se dilata, mas é calejada:
o tom é poético, alucinado, só que não se perde, pois maturado pelo vivido.
A imagem da vez é a da ampliação
do rio bom: ciente de que o chão no qual os pés se sustentam divide as pessoas
entre proprietários e despossuídos (fórmula-síntese: “manda quem pode, obedece
quem tem juízo”), tudo nele, desde o mote dito pela mãe, tematiza, nas
dificuldades, o desejo de arte, de libertação, de subsistência criativa e
organizada na seca, arquitetando o querer rumo ao encontro das cheias
compartilhadas.
Na maior parte do tempo, o cenário
de fundo se situa, tacitamente, no interior de São Paulo. Local onde, o texto
registra, as cidades são reduzidas a “ilhas urbanas no oceano de canaviais”. Nessas
condições, o mascate de ideias e anti-herói tende a parecer com um Antônio
Conselheiro de água doce: o canavial vai virar rio, o rio vai virar canavial. Possivelmente
é algo nessa linha o que se anuncia na capa. Nela, a foto do autor, barbudo, com
as mãos na altura da cabeça e em clima de cena e palco, faz pose de direção, como
se dissesse: “Rigor! Radicalidade! Ruptura!”, mantra de Demerval Saviani comum
ao paiol de amarramentos.
Se os fazimentos, diz o livro, ocorrem
no interior de um deserto verde, o mesmo não pode ser dito da sua pregação. Somos
inundados, passada a capa, por fotos de ações culturais: rádio, teatro,
cineclubes, oficinas, rodas de conversa e além. Elas se afirmam como provas de
coletividade operante, possibilidades colhidas do irrealizável como
fruta-invencionice. Sempre em companhia, o autorretrato de Hélvio, cercado de
jovens e adultos, não percorre mais a própria formação, mas age como formador,
esparramando sementes de agitação cultural para colher outras. “Temos arte para
não morrer da verdade”, é o que crava a citação de abertura na esteira de
Nietzsche.
Ainda miúda a forma, porém mais irrequieta,
a necessidade, como ingrediente, se mostra sobressalente. “A palavra
paracatuzum de origem tupi que significa ‘rio bom’, através da junção dos
termos ‘Pará’ (‘rio’) e ‘Katu’ (‘bom, fértil, caudaloso’). A necessidade de
aguar os muitos rios assoreados do interior paulista e dar um zoom (zum) na
busca de algum tipo de desenvolvimento que contemple a cultura humana como
fonte estrutural” — e, pista decisiva, o que Hélvio chama de desenvolvimento
aqui (e, por favor, tudo foi concebido antes do contraponto krenakiano alastrar)
se opõe ao que chamou de desenvolvimento desumano da usina.
Nesse sentido, somados ao design,
os saltos figurados bem cozidos no vivido parecem querer agir como nova camada
de costura: funcionalizados como imagens compactas, eles se desvencilham do
específico, embora mantenham as marcas de origem. Por isso, falam à imaginação
em registro alegórico. Curiosamente, esse recurso de amplidão se mescla a outro
que não poderia ser mais avesso, embora ambos saiam bem dali e de mãos dadas: o
gosto pela forma elíptica se unta ao compartilhamento variado de estratégias e
táticas — sim, um receituário programático, embora não doutrinário.
Sugestões e experiências de
espírito orientador encharcadas de poesia ou seriam poesias de espírito
desorientador encharcadas de sugestões e experiências? De um modo como de outro,
as dúvidas se multiplicam e as práticas ganham não paralisia, mas um
empurrãozinho. Coisas de professor? Talvez. Entretanto, o segredo passa pela
inspiração em certa concepção de filosofia tropeira de berço sardo, embora alinhada
a práticas conselhistas plurais de organização em viés popular. “Prontos.
Conseguimos e não temos a mais miúda doutrina. Quem sabe a grandeza de não
termos convicções e estarmos prontos para o indefinível embate?”, é o que confessa
o autor, farejador de rumos a serem percorridos nos novos tempos do mundo.
Na união entre dicas e imagens — literalmente
uma emulação de roteiro de cinema — temos ali, por exemplo, o causo de um
canavieiro gasto pela monocultura. Ele, nas horas vagas, gostava de plantar tudo
o que fosse diverso. Com o tempo livre escasso, deixou um método de subsistência:
“mapear.terreno.preparo.sementes.plantio.cultivo.colheita.cozinha.paiol.mapa”. É
nessa mistura de confissões, receitas de bolo e historietas fragmentadas
entremeada por poemas, fotos, desenhos, depoimentos e demais multiformas
sequenciadas que temos o bordado dos amarramentos. “Escrevo para me ler e
traduzir o entorno”, resume.
Ao fim e ao cabo, caminhar rumo
aos protótipos de Pra onde for mais longe daqui (s. d.) seria dar um
passo maior do que a perna. Basta dizer que o duro parto em torno do terceiro
volume fala diretamente à queda de braço entre a monocultura e o cultivo íntimo
fiado pelos métodos de subsistência. Entre ambos, sem dúvida, há o peso do
tempo fechado, escancarado não só aqui, mas no céu de todo lugar. No entanto, esses
passos conflituosos em não aceitar migalhas, como já antecipamos, continuam a
buscar a produção crítica consciente: “trabalhar com arte amplificou o sentido
normativo da existência, estabelecendo assim o ilimitado como condição final da
coisa toda”. Compreender algo assim no day after de um experimento
agroexportador não é conclusão trivial.
Do texto para a vida, é nas
atitudes persistentes e ativas que a presença de Hélvio se faz mais
estimulante: os retalhos de tradição militante e agitação cultural nos quais ele
ainda oscila desconfiadamente lembram que não se baixa a cabeça, mas se
enfrenta. Como? Podem-se apontar contradições, calcanhares de Aquiles aqui ou
ali. No entanto, em ação, Hélvio Tamoio se prova no testemunho de agência – eis
o sumo da tinta própria a cada texto. Desde cedo acostumado a inventar com a
vontade e a peitar o impossível, o norte certo é criar alternativas na falta
delas.
Longe do bovarismo próprio aos
sedentários, o mascate de ideias — um pouco nas trilhas de um Hemingway? —, reverbera
o ainda. No ziriguidum entre a poesia e a prática, se planta e se colhe. Não é
outra coisa que vemos quando nos deparamos, por exemplo, com algumas das
pérolas recolhidas em suas andanças: “Faço da minha esperança/ Arma pra
sobreviver/ Até desengano eu planto/ Pensando que vai nascer/ E rego com as
próprias lágrimas/ Pra ilusão não morrer”. Tais versos, compartilhados por João
Paraibano, morador de Princesa Isabel, Paraíba, dão o recado: o grande achado
do mascate passa pela urgência de formar, de escutar e de contar histórias. Não
deixar para amanhã.
Notas
1 Hélvio, em 2014, escreveu um testemunho estilizado sobre os impactos do golpe de 1964 e como viveu o nascimento da Nova República. De olho na transição dos anos oitenta, ele pode ser acessado
aqui.
2 Paracatuzum, o nome da comitiva de Hélvio, pode ser saboreado em suas razões e estímulos junto ao
seguinte vídeo.
3
O nó da cana também dá garapa (2018), o filme, pode ser visto gratuitamente
aqui.


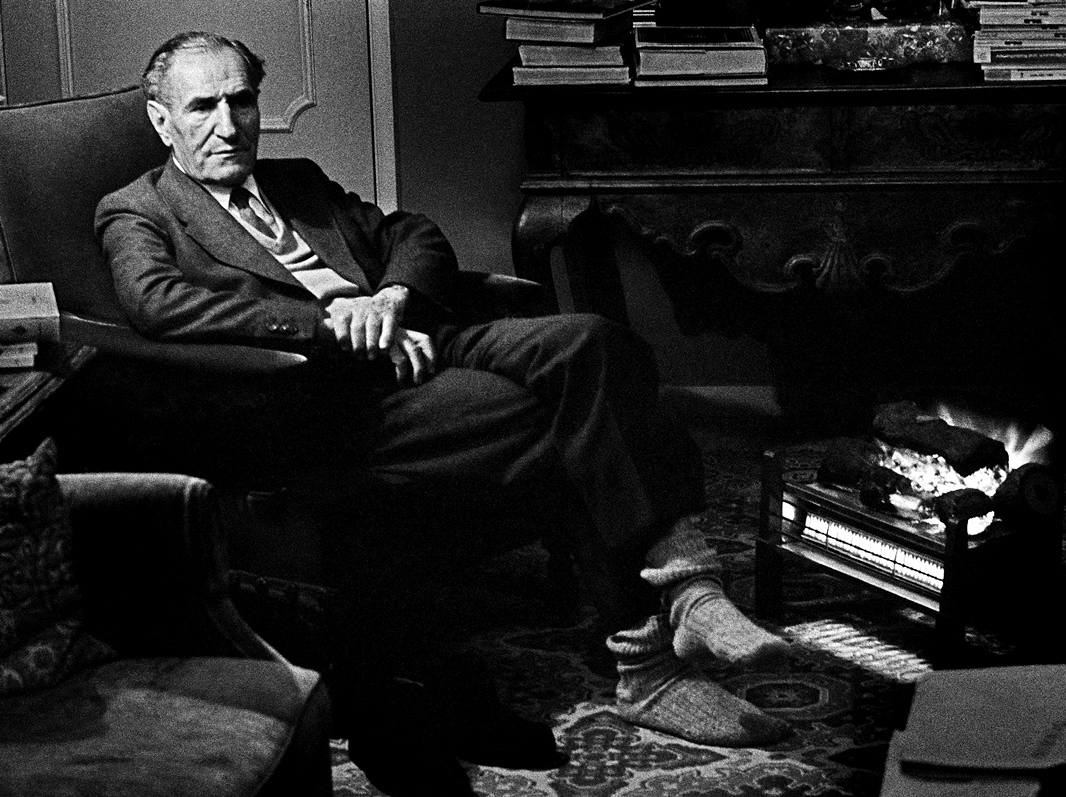




Comentários