Por Emilio Posadas Certucha
 |
| Karl Bryullov. O último dia de Pompeia. |
Plínio, o Jovem, é uma figura
importante para a crônica. Nascido na cidade de Como, Itália, em 61
d.C., perdeu os pais ainda jovem e foi adotado por seu tio, Plínio, o Velho, um
renomado naturalista da época. O jovem aprendeu muito sobre o mundo natural com
o tio. No entanto, seria lembrado por suas famosas cartas.
Aos 18 anos, Plínio viu uma noite a qual o mar resistia. Em 79 d.C., as cidades de Pompeia e Herculano pereceram
devido a uma erupção sem precedentes na história. No sul da Itália, o vulcão
Vesúvio despertou e transformou o mundo de Plínio. A erupção ceifou a vida de
seu tio e guardião, levando-o a escrever uma série de cartas ao historiador
Tácito sobre a tragédia. Como descreve o jovem Plínio, o Vesúvio escondeu
cidades inteiras em sua noite:
“Era já a primeira hora do dia, e
a luz ainda era dúbia e como que lânguida. […] Do outro lado, uma nuvem escura
e medonha, traspassada por movimentos cintilantes e retorcidos do sopro ígneo,
abria-se em longas formas de chamas; estas eram semelhantes e maiores que
relâmpagos.”¹
A imagem é catastrófica. Plínio
testemunhou multidões inteiras contemplando uma nuvem trespassada de raios de
fogo que escondia a luz do sol sob seu manto. Embora a história de Pompeia seja
angustiante, os fatos se tornam ideias quando o missivista os descreve. A
partir desse momento, a catástrofe pertence a todos.
O inferno que emergiu do Vesúvio aprisionou
a cidade de Pompeia. Hoje podemos ver seus habitantes e casas congelados no
tempo pelas cinzas. Um dos aspectos mais impressionantes dessa tragédia é que se
preservou a vida em movimento, mesmo sem ela. Ainda podemos ver o povo da
cidade italiana realizando ações que não tiveram e nunca terão fim. Nas
palavras de Walter Benjamin:
“Seja porque a cinza expelida pelo
vulcão estava úmida, como querem crer alguns, seja porque as chuvas torrenciais
após a erupção umedeceram as cinzas, de qualquer forma, ela veio se depositar
entre cada dobra de roupa, em cada curva da orelha, entre os dedos, cabelos e
lábios das pessoas. Ela se solidificou muito mais rápido do que os corpos
poderiam se decompor, de forma que hoje
temos uma farta quantidade de
moldes de seres humanos, alguns enquanto
caíam ao chão e lutavam contra a
morte, outros, porém, tranquilos, como a esperar por seu fim, tal qual a menina
que vemos deitada com os braços dobrados sob a cabeça.”²
A vários quilômetros de distância,
Plínio viu e descreveu o fenômeno; como o vulcão, ele também estava capturando
a vida e a morte de Pompeia. Em uma de suas cartas a Tácito, Plínio conta como
ele próprio ficou coberto de cinzas, mas a distância o ajudava a continuar se
movendo. A memória permaneceu.
As palavras de Plínio deram pulso
àquilo que estava coberto pela nuvem do Vesúvio. O jovem romano escreveu uma
crônica precisa, onde as linhas escritas se convidam mutuamente a formar uma
imagem. Nós, instalados em nosso contexto, não poderíamos compreender Plínio se
não fosse a natureza literária de sua crônica. Lemos Plínio pelo poder da
analogia como elemento de sua crônica.
A carta de Plínio não recria a
realidade; isso seria impossível. Seu grande mérito foi captar os elementos
fundamentais daquele momento e saber dar-lhes o contexto literário adequado
para transmitir em palavras a força de um vulcão.
Há muitas maneiras de descrever, e
outras tantas de contar, porém, Plínio teve a difícil tarefa de relatar algo
que não compreendia e do qual não tinha qualquer experiência prévia. Preso
naquele momento, o jovem registrou as cenas horríveis, relacionando-as a
aspectos da vida cotidiana, ao mesmo tempo apelando e convidando a imaginação.
“Apenas nos sentáramos e fez-se
noite, não como sem lua ou com nuvens, mas como em lugares fechados com a luz
apagada.”
Walter Benjamin conta, em suas
breves passagens transmitidas pelo rádio na década de 1930, que as casas
romanas não tinham janelas. Tanto a luz quanto o ar vinham de um pátio
localizado no centro das casas: uma janela para o céu que deixava a chuva entrar.
Considerando a arquitetura de sua época, a descrição de Plínio faz sentido. O
romano recorreu a um elemento comum de sua cultura para descrever a escuridão
sem precedentes. Sem esses recursos literários, não teríamos ideia do que
aconteceu em Pompeia. Em um esforço para expressar a destruição do Vesúvio, ou
melhor, sua preservação, Plínio conseguiu criar um momento e torná-lo visível.
Ele foi a janela.
O gênero da crônica está longe de
ser um mero retrato da realidade. Os cronistas são artistas de seu tempo: tomam
fragmentos de seu mundo para moldá-lo e refletir sobre ele. Este último ponto é
o maior valor presente nesses textos: a crônica é a realidade transformada em
literatura; é o mundo como ideia.
Quando penso em Plínio, o Jovem,
também penso em outro autor: o grande correspondente de guerra e cronista Ryszard
Kapuściński. Como Plínio, o polonês compôs uma realidade em sua crônica para
refletir outra. Múltiplos recursos literários são encontrados em seus textos.
Em um trecho sobre seu primeiro emprego como correspondente fora do país, escreve
o seguinte:
“Compreendi que cada mundo
continha um mistério e que o acesso a isso só poderia ser facilitado pela
linguagem. [...] Além disso, descobri uma relação entre ter um nome e existir,
pois cada vez que voltava ao hotel, percebia que na cidade eu só tinha visto o
que sabia nomear.”³
A crônica faz parte da história; o
cronista parte de seu lugar na sociedade para preservar aspectos da cultura que
o cerca. A erupção do Vesúvio foi um evento que nos convida à reflexão até
hoje, mas nossa imagem de sua história seria truncada se não fosse pelo relato
de Plínio. Enquanto hoje vemos a cidade de Pompeia sustentada pelas cinzas, de
modo que suas “estátuas” nos falam daquele silêncio repentino, a obra de Plínio
é mais esperançosa: narrar a partir da vida. Isso estabelece a crônica como uma
forma literária capaz de repensar, mudar e inventar a forma do passado. A
crônica, em suma, é a outra possibilidade da História.
A característica que separa a
crônica de outros gêneros da prosa é sua qualidade como tela histórica e
social. Portanto, podemos falar de uma forma de escrita com nome próprio. Não
devemos menosprezar sua contribuição historiográfica, especialmente se buscamos
vislumbrar o que Agnes Heller apontou como seu cerne: a vida cotidiana. É para
lá que a crônica aponta. Estamos diante de um gênero que não busca construir a
história, mas sim fornecer as coordenadas para compreendê-la desde sua origem:
a vida. Plínio, o Jovem, é, portanto, um dos pais fundadores de uma forma
literária que transforma o presente em arte e ideia.
Notas da tradução:
1 A tradução aqui referida e de
outras passagens da carta de Plínio a Tácito citadas neste texto é de Mauri
Furlan.
2 A tradução é de Aldo Medeiros
(Nau Editora, 2018).
3 De Minhas viagens com
Heródoto, publicado no Brasil pela Companhia das Letras com tradução de
Tomasz Barcinski. A versão aqui referida, no entanto, é nossa a partir da tradução
espanhola.
* Este texto é a tradução livre de “Plinio, el cronista de las cenizas”,
publicado aqui, na revista Nexos.


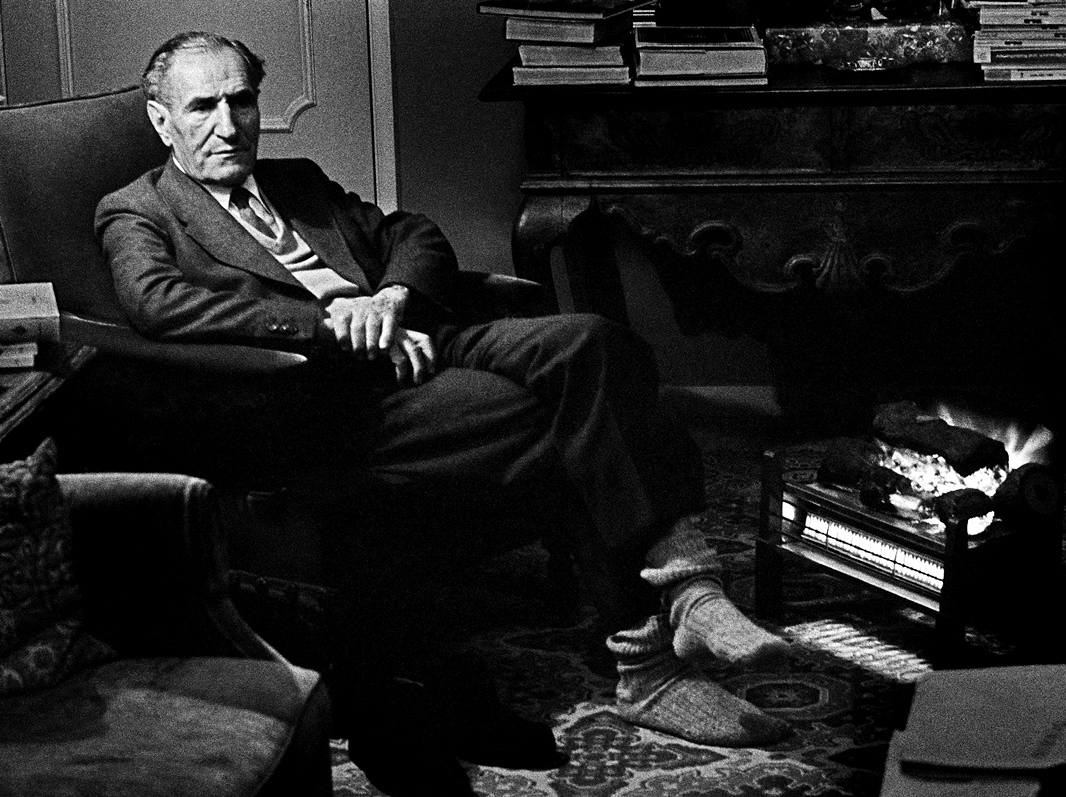




Comentários