Um novo cavaleiro de bronze
Por Rafael Bonavina
.jpg) |
| Orest Kiprensky, Retrato de A. Púchkin, 1827. |
Foi lançada neste ano O cavaleiro de bronze e outros contos em versos, uma nova seleta de textos de Aleksandr Púchkin, sem dúvida um dos, se não o, mais importantes escritores na história da literatura russa; e ainda assim, como por uma ironia do destino, ele é pouco lido fora da Rússia. Púchkin é para os russos algo como o nosso Machado de Assis, ou seja, uma espécie de ponto de virada na historiografia literária, de salto qualitativo. Não raro encontramos pesquisadores defendendo que a literatura russa só afirma sua identidade nacional a partir de Púchkin; e isso, a nosso ver, não seria um exagero de fã. Afinal, sua obra mescla o classicismo — que pautava grande parte da literatura — com diversos elementos da cultura popular, como a fala e o folclore. A partir daí, é como se a língua russa real começasse a ganhar mais presença no papel, tomando espaço do estilo grandiloquente e já desgastado que se usava na escrita até então.
Nessa edição, o leitor encontra um recorte bastante interessante da obra desse autor, indicado no título como “contos em versos”, o que pode parecer uma contradição em termos, mas não é bem assim. O recorte reflete uma fase em que Aleksandr Púchkin buscava experimentar um tipo de texto que fica entre a prosa e a poesia, muito marcado pelo encadeamento dos versos (enjambement) e pelo estilo mais narrativo que lírico. Essas experimentações acabam por desembocar na sua obra-prima, Evguêni Oniéguin, em que esses dois extremos chegam ao equilíbrio perfeito.
Com esse novo livro, lançado pela editora Penguin-Companhia, o leitor tem acesso a uma parte significativa desse percurso trilhado por Aleksandr Púchkin, passando por “O cavaleiro de bronze”, “Uma casinha em Kolomna”, “Conde Núlin”, “Os ciganos” e “O prisioneiro do Cáucaso”. Todas as traduções são de Rubens Figueiredo, que as faz em contato direto com o original russo, como lhe é de costume, e também transpõe a metrificação russa para a tradição poética do português. A tradução, claro, reproduz o espírito do original com muita fidelidade e o faz sem perder de vista a literariedade do texto de chegada, o que se nota pela leitura agradável e envolvente.
Nos pontos em que, talvez, se poderia sentir alguma aspereza, alguma dificuldade decorrente da interface com a outra cultura, Rubens Figueiredo tem o cuidado de adicionar notas explicativas que facilitam o contato com o texto. Em alguns casos, pouco frequentes, o tradutor complementa as notas do autor com informações que ajudam o leitor contemporâneo a compreender alguma alusão já perdida no tempo. Essa detida pesquisa realizada no intuito de recuperar essas informações certamente contribui muito com a fluidez da leitura e demonstra o cuidado que se teve na tradução da obra de um autor tão complexo quanto Púchkin.
Além de traduzir e anotar os textos, Rubens Figueiredo assina a apresentação da antologia, em que expõe algumas interessantes reflexões, que nos dão, em rápidas pinceladas, uma boa introdução à gigantesca figura desse escritor. Nessa espécie de prefácio tradutológico e editorial, o tradutor expõe os princípios norteadores da edição, o motivo das escolhas e mesmo da organização dos textos. Um deles nos parece muito interessante por ser ao mesmo tempo contraintuitivo e, a nosso ver, muito acertado. Diz Figueiredo que a ordem dos contos é pensada para que o leitor se depare primeiro com os textos mais maduros e depois vá em direção aos experimentos narrativos mais incipientes de Púchkin. O primeiro impulso, provavelmente, é o de se esperar que a ordem seja cronológica, por isso pode causar certo estranhamento, mas essa é uma organização que ajuda a compreender o processo artístico de Aleksandr Púchkin, partindo do que nos é mais próximo, mais familiar.

Esse princípio de organização é muito parecido com o utilizado pelo Curso de Literatura Brasileira da USP, por exemplo, em que o estudante começa seus estudos pelo Modernismo — uma escola temporalmente mais próxima da contemporaneidade e cuja escrita tem uma linguagem mais acessível — e depois segue para as formas mais antigas e condensadas, como o Romantismo. Nesse sentido, a organização da antologia segue a mesma lógica, começando por “Cavaleiro de bronze”, conto mais próximo da prosa (que é inegavelmente mais consumida que a poesia pelo grande público contemporâneo), e pouco a pouco se aproxima dos textos mais formalmente poéticos, como “O prisioneiro do Cáucaso” ou “Os ciganos”. Esse olhar para a recepção do leitor que nos parece muito didático e que talvez surja da longa experiência de Rubens Figueiredo como professor.
***
O conto do cavaleiro é escrito com as tintas do Realismo, como fica evidente pela segunda parte do texto, em que são apresentadas as consequências de uma enchente do rio Nevá. Como o próprio tradutor aponta no seu prefácio, Aleksandr Púchkin fez uma longa pesquisa, colheu muitos relatos de testemunhas oculares, para conseguir dar o tom de verossimilhança ao seu texto. Isso não significa, no entanto, que ainda não se possa encontrar alguns resquícios, traços do Romantismo aqui e ali.
A tensão estética entre os dois estilos permeia todo o conto e fica bastante clara ao contrastarmos duas descrições ligadas ao tema central do conto. A primeira delas apresenta ao leitor a enchente em si mesma, o crescimento das águas e a sua potência.
O Nievá ronca, urra e cresce,
Como um caldeirão, ferve e borbulha,
E o rio, em que a cidade mergulha,
Contra ela se insurge selvagem.
Em fuga, todos correm das margens,
Somem de súbito e a água avança,
Porões adentro em ondas se lança,
Jorram os canais através das grades.
Como um tritão, emerge a cidade
Da água que sua cintura alcança.
[…]
Pensa o povo:
É a ira divina.
Sem teto e pão, é a nossa desgraça!
Ao falecido tsar coube a sina
De reinar na Rússia nesse ano.
Da sacada, ele diz, vendo os danos:
“Contra a natureza, é pouco um tsar”.
Nota-se no excerto a abundância de figuras de linguagem, principalmente os símiles, um traço que logo soa aos nosso românticos, como uma Iracema, de Alencar. As referências à cultura clássica, que aparece nesse excerto na menção ao tritão (“тритон”), misturam-se a elementos populares, como os isbás do início do conto ou a turba apavorada diante do que julgam ser uma punição dos Céus. Em meio a essa confusão toda, em um comentário en passant, o tsar reconhece sua pequenez frente à fúria da natureza — uma passagem que comprova a natureza das ressalvas que os censores tiveram com “O cavaleiro de bronze”, tema que Rubens Figueiredo aborda em sua apresentação do conto.
Vejamos agora a descrição que Púchkin faz da destruição deixada por esse fenômeno natural a fim de compararmos os dois estilos.
Visão terrível! Tudo mudado.
À sua frente, escombros se amontoam,
Destroços, ruínas se esboroam.
Vê casas sem conta retorcidas
E outras pelas ondas demolidas,
Na torrente lançadas por terra
E, tal como num campo de guerra,
Cadáveres caídos na lama.
Corre Evguiêni em total desatino,
Sobre ele o pavor se derrama.
Nesse excerto, a linguagem passa por uma transformação significativa: o sublime dá lugar ao horrível, ao grotesco. As figuras de linguagem se tornam mais escassas, excetuando-se a símile entre a desolação da enchente e da guerra. Já nas descrições o tom grandiloquente dá lugar a descrições secas, ironicamente, e entrecortadas. O tom geral do excerto parece descer alguns tons, afastando-se da elocução elevada que marcam o início do conto.
Fica mais clara, então, a tensão estética de que falávamos, ora predominando a verve mais realista, ora a mais romântica. O curioso é notar que “O cavaleiro de bronze” foi publicado em 1837 e, portanto, alguns anos antes de que essa tendência literária ganhasse força na Rússia. Isso só acontece em meados dos anos 1840, quando os princípios estéticos da Escola Natural se consolidam nas obras de autores como Nikolai Nekrássov, Vladimir Dal e, em alguma medida, no primeiro romance de Fiódor Dostoiévski, Gente pobre (1846). Diante disso, podemos considerar Púchkin como um dos nomes que entram para a história da literatura russa como um predecessor do Realismo russo.
Contudo Púchkin não ganhou o título de Sol da Literatura Russa por ofuscar os demais com seu brilho, mas por ser a fonte da luz que nutre, que possibilita o desenvolvimento de todas as vertentes que nasceram a partir de sua obra, desde o Realismo — tanto em sentido mais estrito, como o de Gente pobre, quanto o mais experimental, como O duplo (1846), também de Dostoiévski, ou mesmo O capote (1842), de Gógol — até vertentes mais modernas, por exemplo, Marina Tsvetáieva e seus “Versos para Púchkin” (1931). E até hoje sua obra preserva importância cultural, continuando a ser estudada, lida e traduzida, como prova a nova edição da Penguin-Companhia.
______
O cavaleiro de bronze e outros contos em versos
Aleksandr Púchkin
Rubens Figueiredo (Trad.)
Penguin/ Companhia das Letras, 2025
144 p.




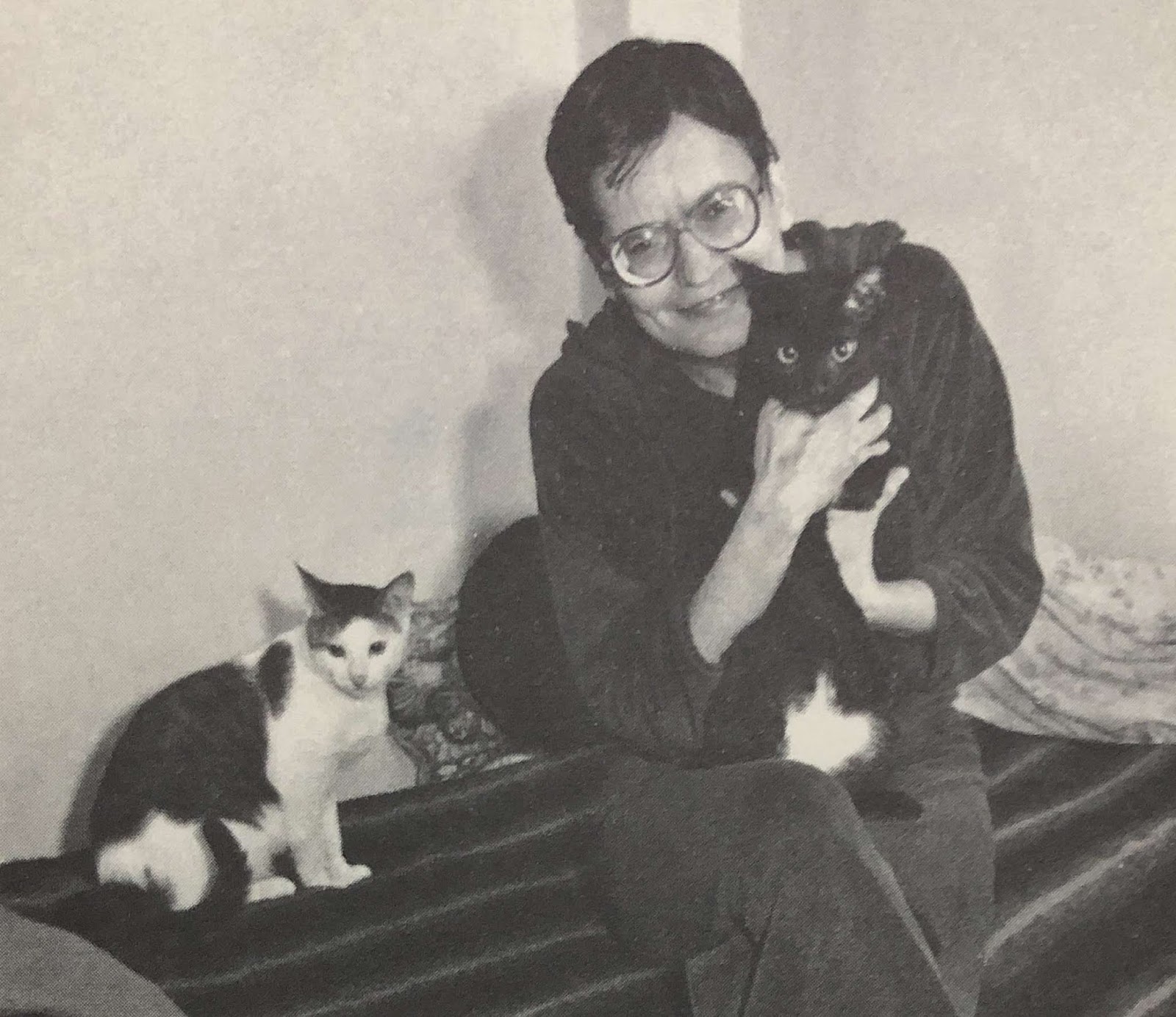
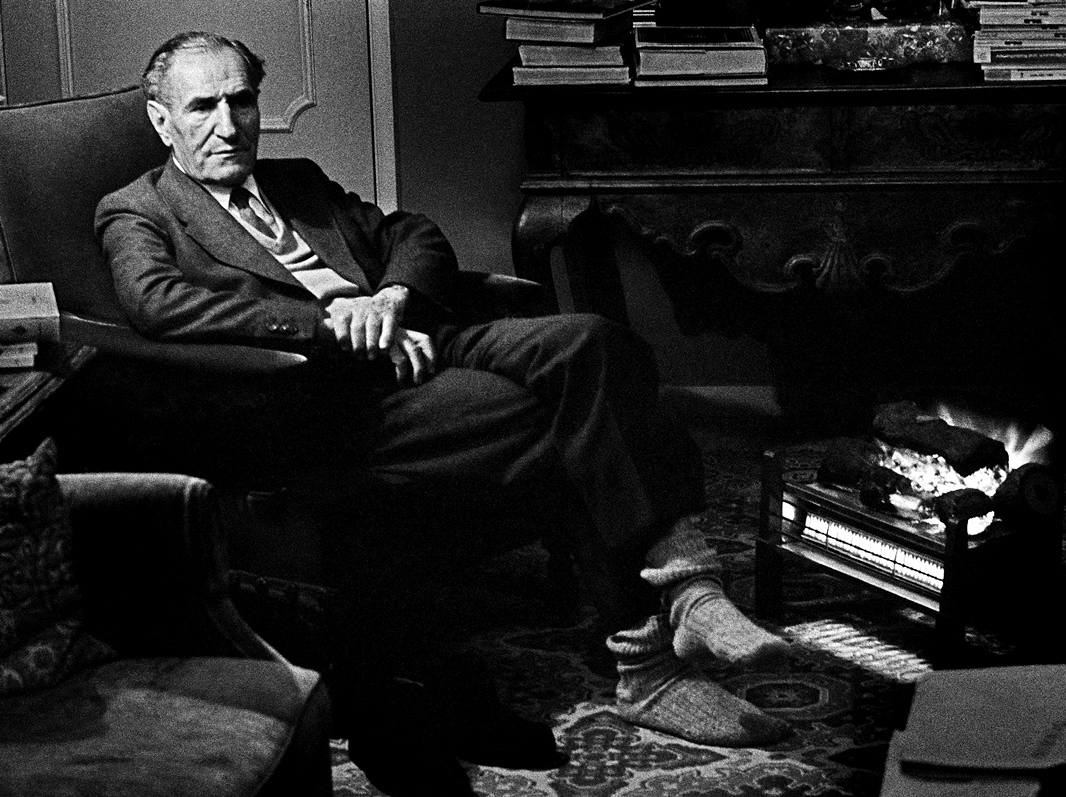
Comentários