Por Afonso Junior
O fundador do estoicismo, Zenão de
Cítio, teria nascido em torno de 333 a. C.; Marco Aurélio nasceu em 121 de
nossa era. Quase quinhentos anos, portanto, e muitas diferenças. Dos livros
escritos pelos primeiros estoicos nos resta quase nada — das centenas de
escritos de Crisipo, restam os títulos e alguns fragmentos. Do estoicismo
romano, entretanto, temos abundante material de Sêneca, as conversas de
Epicteto recolhidas em dois livros, e os diários de Marco Aurélio. E, como
veremos, algo mais...
Uma das diferenças é que esse
estoicismo de Marco Aurélio, ainda que fundamentado em uma tese sobre a ordem
cósmica e em uma moral baseada na physis, nos parece muito diverso do
estoicismo grego — com seus complexos argumentos sobre o logos, as
representações que nos aparecem em um mundo de fenômenos, nossos juízos, a
conflagração final e os princípios sem forma (ativo e passivo) que são base dos
elementos do mundo. Tudo isso aparece em Marco Aurélio, mas de forma
subliminar; em primeiro plano está a análise da própria atitude e sua luta por
viver de acordo com valores do eu divino. Seu esforço para não ceder à ira ou à
melancolia cumprindo o dever (pesado) de ser o líder de seu povo. Por isso sua
escrita apresenta um enigma (como afirma Donato Ferrara no prefácio): quais os
fundamentos desse pensar sobre si mesmo, tecido de forma crua e direta, tão
diverso do retórico Sêneca e do sistemático Epicteto?
Aldo Dinucci nos conta na
introdução deste livro, que Marco, aos doze anos, teria adotado as “vestes de
filósofo”, um manto grego, e desejado dormir no chão, do que a mãe o salvou
pedindo que, pelo menos, deitasse sobre um leito coberto de peles (Dinucci,
2025, p. 31). Também nos conta, na Cronologia, que, aos seis anos, ascende à
segunda ordem da nobreza romana (Ordem Equestre) por determinação do Imperador
Adriano, sendo escolhido como sucessor do herdeiro deste (Antonino Pio) e
adotado por ele em 138. Adriano escolhe um filósofo como Imperador.
Como todo enigma, Marco Aurélio
tem luz e sombra. E agradecemos a toda pista que traga luz sobre ele. Suas
cartas com seu mestre Marco Frontão (professor de retórica), seus discursos
públicos (“Por que [irmãos soldados] me irritar com o destino, que tudo ordena?”),
ditos recolhidos pela posteridade (Galeno, Júlio Capitolino, Dião Cássio...).
Material inédito em português e fundamental para entender a abrangência do modo
de viver estoico sobre seu comportamento.
Por exemplo, quando afirma, em
discurso no Capitólio, que não teria permitido em seu reinado a execução de
qualquer senador, mesmo dos rebelados, se disso tivesse ciência. De fato, houve
uma tentativa de golpe de estado em 175; Cícero, também filósofo, na República,
mandara executar os rebeldes. Somente essa pesquisa dos autores, que
contextualiza cada episódio narrado de sua vida, já seria um feito para o
estudo do estoicismo romano. Outro exemplo citado no livro: tendo contraído a
peste em campanha contra os marcomanos, vendo chorarem seus amigos e oficiais,
os exorta dizendo que a morte é comum a todo mortal. Novamente aqui, a
filosofia em performance no barro da vida comum.
Para nosso Imperador, é preciso
preservar na vida diária seus princípios, recebendo as representações (“farsa,
guerra, alvoroço, escravidão”) e avaliando-as pela “filosofia natural”
estudada, assim tanto realizando o que depende das circunstâncias, como
colocando “em ação a capacidade teorética” vivendo “a partir da ciência”, como
lemos nas suas Meditações (M. Aur. Med. L 10.9, 2023). Se "nada
está parado" e "tudo desaparece", o pensamento livre de paixões
é uma cidadela (Radice, 2016) — na tradução de Dinucci: "o pensamento é
uma acrópole livre de paixões" (M. Aur. Med. L 8.48, ibid.).
Roberto Radice pensa que o otimismo grego quanto ao “desenvolvimento
espermático do logos” (ibid., p. 252) cede lugar a uma espécie de
nova separação entre “as angústias e tudo que pertence ao corpo” e o intelecto
(nous), harmonia interior à qual se volta para acertar o próprio ritmo (ibid.).
Seus escritos são uma reflexão
consigo, mas também conosco, com as pedras da jornada da vida. Se pensássemos (ousando
um pouco) na vida de Marco Aurélio de acordo com as teoria dos humores,
conforme abordada no Renascimento pelo neoplatônico Marsílio Ficino (1433-
1499), provavelmente ele não seria do reino do guerreiro Marte (temperamento
colérico) ou do sensual Júpiter (sanguíneo), muito menos estaria entre os dois
modelos medievais (o santo contemplativo e o cavaleiro ativo), mas seria,
talvez, do reino de Saturno, deus obscuro e generoso (temperamento melancólico
inspirado) — o temperamento de artistas, inventores e filósofos, de um Leonardo
e um Hamlet, dirão depois.
Temperamento de uma vida (a
especulativa) que (diz Ficino) não usa a “mente” do teólogo, o raciocínio “metafísico”,
que concebe ideias além do espaço e tempo, mas usa a “imaginação” — território
da imagem, das medidas e da grandeza criadora. Como daimon, pensa em
ordenar o mundo com a beleza das ideias. Por certo, se vê deslocado no mundo
que o cerca, de guerras, vaidades e disputas pelo poder; observa o mundo e dele
retira sabedoria, como na gravura Melancolia I de Albrecht Dürer (1514).
Sua obra tem, nesse sentido, esse caráter de “obra da imaginação” de um
humanista do Renascimento avant la lettre — sentimos a carne e o suor,
sabemos que estamos lidando com a ordem do logos e os ideais; diante das
lutas do mundo, nossa luz interior é o princípio que nos traz coerência e
decisão.
Falando em República (a Florença
de Ficino era a de Cosme de Médici, que a manipulava para concentrar poder), registrou
Júlio Capitolino que o Imperador Marco Aurélio preferia “deliberar com os
nobres” até mesmo problemas da vida civil, crendo ser mais justo que ele siga a
muitos do que querer que todos sigam sua vontade (Hist. Aug 22.3, Marco
Aurélio, 2025, p. 69).
Outro relato apresentado no livro:
os cristãos primitivos são denunciados como desordeiros em um contexto em que ocorriam
terremotos; Mary Beard (2023) afirma que, em 200 d.C. havia no Império (com uma
população em torno de 60 milhões de pessoas) cerca de 200 mil cristãos; Roma
sempre acolheu os deuses dos povos conquistados, como forma de trazer
estabilidade; o cristianismo poderia ser visto como uma rejeição ao costume de
incorporação dos deuses estrangeiros, monoteísmo excludente, ou pior, ateísmo, causa
de punições divinas.
Em sua Carta à Assembleia Comum da
Ásia, Marco Aurélio rebate os acusadores dizendo que eles também negligenciam
os deuses, além de não cultuarem o “Imortal” (que o estoico assimila ao Logos
Universal), o qual os cristãos cultuariam. Só deveriam ser perturbados em caso
de agirem contra o governo local. Interessante ver a tolerância de Marco em
contraste com o panorama geral; segundo Beard, a perseguição sistemática só
surgiria por volta do século III d.C., apesar de cristãos serem usados como
bodes expiatórios muitas vezes, como foi o caso de Nero, que acendeu tochas
humanas. Pelo relato de uma jovem mãe cristã de Cartago em 203 d.C. (Vibia Perpetua),
em que o governador da Província pede que ela faça um “sacrifício pelo
bem-estar de seu Imperador”, ao que ela respondeu “Não vou fazer isso, sou
cristã”, sendo lançada às feras, se vê o medo e a ansiedade coletivas que
rondavam esse “abandono dos deuses”. (Por outro lado, o exame da consciência e
a questão da intencionalidade dos atos propostos pela filosofia estoica, por
exemplo, serão muito admirados pelo cristianismo, ilustrado pelo fato de surgir
a lenda de falsas cartas trocadas entre Sêneca e Paulo de Tarso).
Marco Aurélio, um personagem pleno
de contradições, o que dele nos aproxima: provavelmente tentando evitar os
dilemas da sucessão imperial em seu tempo (sendo a trágica sucessão de Augusto
o exemplo mais sombrio), nomeia seu filho Cômodo como herdeiro (o qual se verá
como encarnação de Hércules e o provará executando vítimas humanas da arena),
principiando inadvertidamente a queda do Império. Do nosso ponto de vista, o
problema do Império era estrutural, a concentração de poder que (em vista de
evitar as guerras civis), acabou submetendo a estabilidade política (portanto,
as vidas de muitos) à alma imponderável de um único homem. O contraste com o meigo
Marco, que queria viver conforme a razão que governa o cosmos, deve ter sido
chocante. Nosso livro mostra uma imagem do pintor romântico francês Eugène
Delacroix (1844) sobre a despedida do Imperador; na hora de sua morte, ele
deixa uma espécie de luz: “Partam em direção ao sol nascente, pois eu, agora,
estou me pondo...” (M. Aur. apud. Dinucci e Santos Júnior, 2025, p. 91).
______
Marco Aurélio: cartas, discursos e ditos célebres
Aldo Dinucci (org.)
Aldo Dinucci e Cristóvão dos Santos Júnior (Trads.)
Editora Auster, 2025
124p.
Referências
Aurélio, Marco. Meditações: Os
escritos pessoais de Marco Aurélio Antonino, imperador filósofo (Ta Eis
Eauton). Tradução, introdução e notas: Aldo Dinucci. São Paulo: Penguin-Companhia,
2023.
Beard, Mary. SPQR: uma
história da Roma Antiga. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2017.
Radice, Roberto. Estoicismo.
Tradução de Alessandra Siedschlag. São Paulo: Ideias & Letras, 2016.
Dinucci, Aldo (org.). Marco
Aurélio: cartas, discursos e ditos célebres. Tradução de Aldo Dinucci e
Cristóvão dos Santos Júnior. Campinas: Editora Auster, 2025.



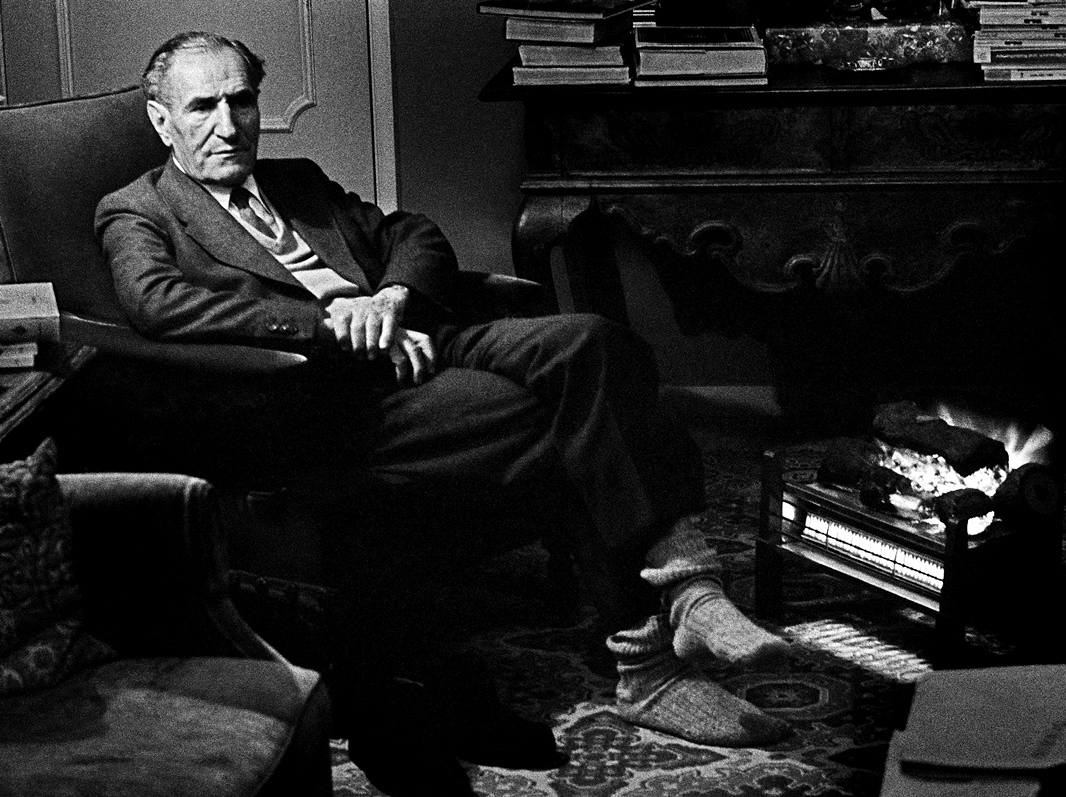
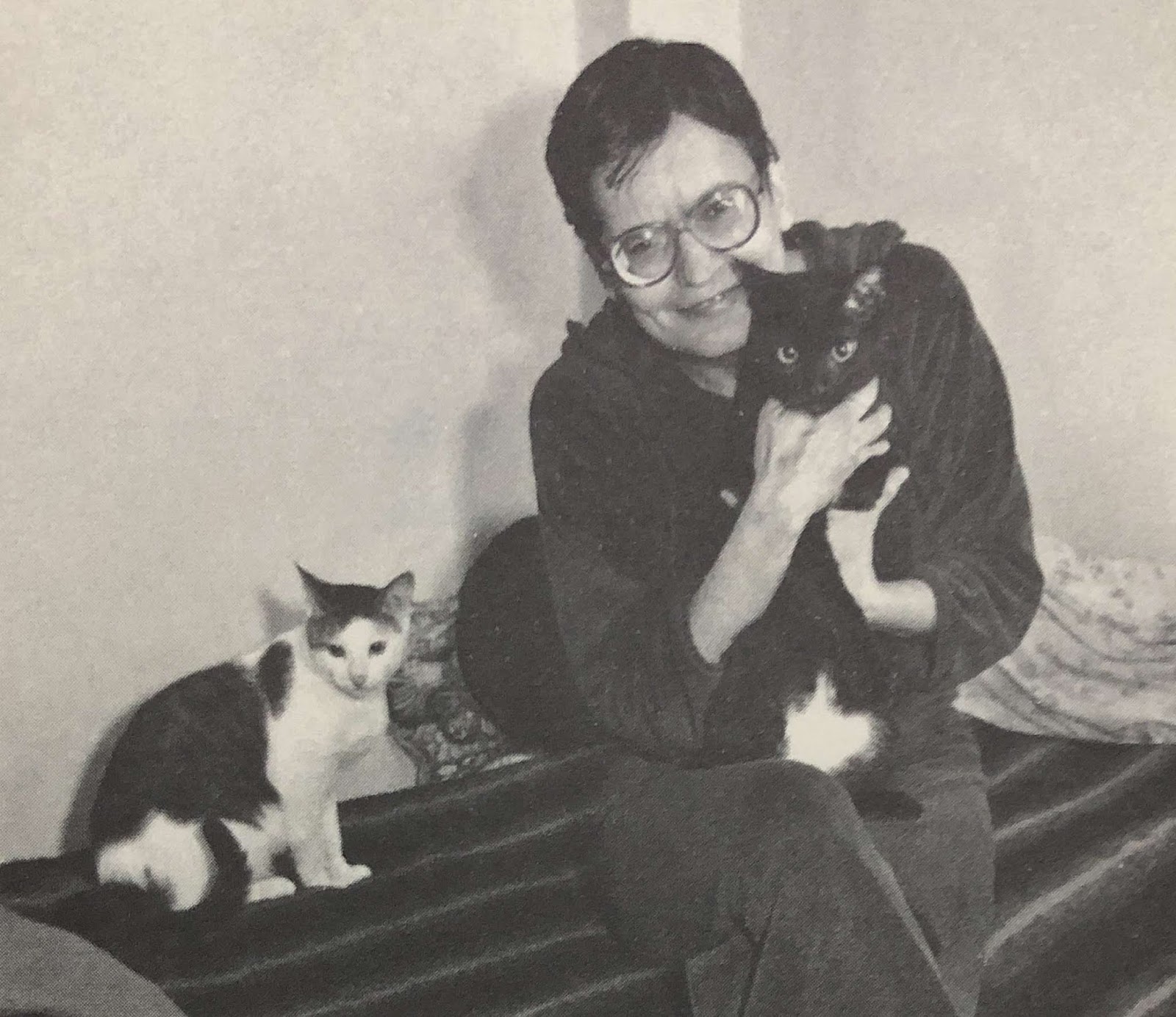


Comentários