O tradutor e o oculista
Por Rafael Bonavina
 |
| Vladimir Lebedev |
Quando sai a nova tradução de alguma grande obra, todos os interessados se apressam para saber se foi bem traduzida. O ritmo acelerado do mercado — mesmo o editorial — exige uma resposta rápida e curta, de preferência que caiba em uma arte para as redes sociais: é bom, há melhores. Porém, e muitos teóricos da tradução concordam, avaliar uma tradução é tarefa extremamente complexa, por isso demanda muito tempo e reflexão para se poder fazer jus ao seu objeto. Em grande medida, essa demora se dá pela própria complexidade da ação de traduzir, esse ato desmedido, como diria o mestre Boris Schnaiderman.
Não há muita novidade nisso, mas é importante às vezes contar piadas velhas para públicos novos: o trabalho do tradutor não se limita à sobreposição de uma palavra estrangeira por outra idêntica do vernáculo. Não precisamos ir muito longe para percebermos que em português há muitas palavras para se designar um lugar cheio de plantas (mato, matagal, floresta, bosque, selva etc.) e outras línguas, como o russo, não as possuem em tamanha profusão. Há razões históricas e geográficas para isso, afinal por que um povo haveria de inventar uma palavra para algo que não faz parte de sua realidade? Por exemplo, um romano do século II não teria qualquer motivo para pensar na versão latina de “helicóptero”, pois esse meio de locomoção sequer existia.¹
Além disso, mesmo as palavras que se parecem não necessariamente possuem sentidos semelhantes, e esses casos são verdadeiras armadilhas que a linguagem coloca no caminho do tradutor. Isso pode acontecer por uma enganosa similaridade fônica, uma polissemia ou mesmo pela transformação do sentido no uso corrente, como ocorreu com a palavra “garçom” que, nascida do francês para “rapaz”, hoje é usada principalmente para designar os atendentes em bares e restaurantes. Diante disso, já podemos imaginar a dor de cabeça de um tradutor estrangeiro, anglófono digamos, que tente encontrar uma única palavra que dê conta de todos os sentidos da palavra “ponto” (de encontro, de ônibus, de jogo, de costura, argumento...). Ao lidarmos com “ponto” sem um contexto que nos ajude a compreender qual acepção, exatamente, estaria sendo utilizada, a tarefa seria, senão impossível, certamente desesperadora.
O problema, todavia, não se resume apenas às palavras soltas. Pelo contrário, ele se adensa ainda mais quando começamos a trabalhar com os idiomatismos típicos de cada língua, como as expressões formulares e ditados populares. Caso interessante ocorre, por exemplo, com as cores: em russo, alguém pode ficar amarelo² de raiva, mas por aqui esse sentimento nos deixa vermelhos e só amarelamos quando perdemos a coragem de fazer algo. Se alguém traduzisse “ao pé da letra”, certamente causaria uma impressão absolutamente contrária do que o falante buscava.
Em síntese, portanto, o sentido só se constrói na medida em que é observado em seu contexto, tanto textual quanto cultural. É por isso que não basta olhar para as palavras soltas e buscar seus equivalentes em uma tabela, o que significaria tomar a tarefa de traduzir como o ato de dispor termos em duas colunas e depois colocá-las na ordem do original. Nada poderia estar mais distante da realidade do tradutor.
***
Se uma expressão relativamente simples e cotidiana, como “vermelho de raiva” pode ser de difícil tradução, o que poderíamos esperar da tradução literária? O primeiro impulso do leitor é, provavelmente, acertado: trata-se de um verdadeiro desafio. Por vezes, um livro de algumas dezenas de páginas pode levar meses e meses para ser vertido em outro idioma, se o tradutor estiver buscando um produto bem-acabado. E isso se dá, em grande medida, por causa da camada estética que marca a literaturiedade de um texto.
A linguagem literária possui uma lógica interna e pode estabelecer uma rede de relações com poucas palavras. Por exemplo, ao falar do português como a última flor do Lácio, inculta e bela, o leitor imediatamente recupera o poema de Olavo Bilac, e isso pode ser utilizado para criar uma intertextualidade, seja ela respeitosa ou derrisória. E, claro, o tipo de relação estabelecida varia de obra para obra e de autor para autor, havendo nisso interessante material de análise para os críticos literários.
Não se pode deixar de levar em conta as particularidades da própria escola literária a que o autor pode ser filiado, seja de maneira tensa ou harmônica. Ou seja, a linguagem utilizada por um parnasiano pode não ser a mesma de um modernista, por exemplo, e a tradução deve levar em conta esse traço particular. Não convém traduzir um Oswald de Andrade com o mesmo linguajar que Camões, é claro, sem que um dos dois saia bastante mutilado. Por isso, antes de mais nada, uma tradução literária é fruto de uma leitura, de uma determinada análise do texto original e, portanto, subjetiva.
Some-se a isso que cada obra é produzida dentro de um determinado sistema literário, único e irreproduzível, e acaba pressupondo, muitas vezes, um leitor familiarizado com certas intertextualidades e referências da cultura original. O tradutor, por mais habilidoso que seja, não pode criar o repertório cultural em seu leitor, que chega à tradução munido de uma carga de leitura própria. Em certo sentido, o profissional precisará lidar com essa finíssima rede literária com os meios de que dispõe, e eles são vários. Em um extremo temos a evidenciação dessas relações por meio de notas; e, no outro extremo, a confiança na capacidade do leitor. Ambos podem gerar ruídos que dificultam a fruição do texto.
Se optar por notas de rodapé — e falo especificamente destas, pois as notas ao final do livro são uma opção de que as editoras costumam fugir mais que o Diabo da cruz —, é preciso ter muita parcimônia nas intervenções. Do contrário, a tradução acabará cheia de anotações, de textos interpostos, o que pode deixar a leitura truncada e mesmo carregar as páginas com os números, além, claro, de enfadar o leitor com os extensos comentários que, talvez, não sejam de seu interesse. Em último caso, o excesso de notas pode fazer com que a leitura seja abandonada por dificuldade na fruição estética do texto. Ainda que o tradutor seja cuidadoso nessas anotações, uma nota certamente chama mais atenção do leitor que uma alusão discreta feita por um autor, o que também pode matar a delicadeza da menção, tornando-a óbvia.
Aproveitando o ensejo, é preciso tomar cuidado também para que as notas não apresentem uma interpretação pronta para o leitor, pois, vinda do tradutor (figura vista como certa autoridade nesse contexto), pode ser tomada como a “forma correta” de compreender uma passagem. A boa nota de rodapé condensa uma informação de difícil acesso — ou seja, algo que uma rápida busca não encontraria — e cuja ausência impediria a compreensão mais aprofundada do excerto comentado. Se uma nota não apresentar alguma dessas características, talvez valha a pena reconsiderar sua pertinência.
O extremo oposto do texto com notas demais é o excessivamente “limpo”, ou seja, um que não estende a mão para o leitor e o ajuda a transpor os percalços da caminhada. Nesse caso, é mais difícil que a leitura seja abandonada pela dificuldade de fruição, excetuando-se, claro, as traduções ruins ou o desinteresse do próprio leitor. Porém alguns elementos importantes do original podem não ser percebidos por um leitor mais acostumado à cultura de partida. Nesse sentido, também há perda de fruição estética, já que o efeito literário pretendido pelo autor não é transmitido.
Como se nota, então, em ambos os casos houve um ruído na comunicação autor-leitor, e, portanto, a tradução não atingiu seu objetivo de aproximar os dois interlocutores. No entanto, as traduções raramente se colocam em um ponto extremo desse espectro, e é justamente por isso que avaliar uma tradução é tão difícil. Antes de mais nada, precisamos compreender em que ponto o tradutor está se colocando, quais seus pressupostos tradutológicos e só então poderemos compreender melhor se ele atingiu ou não seu objetivo. Do contrário, estaríamos incorrendo no erro de avaliar todas por um único critério, digamos o da fidelidade sintática ou da proximidade fônica das palavras, e invariavelmente cometeríamos injustiças. Com a liberdade de uma metáfora, seria igual a dizer que uma maçã é um péssimo martelo, sem levar em conta sua característica primária: a de ser uma maçã, não um martelo.
E aí começa a dificuldade de se avaliar uma tradução: compreender o difícil trabalho do outro no que ele se propôs a fazer e não no que ele deveria ter feito. Isso não significa, é claro, que não se possa questionar certos pressupostos ou a ausência de alguma característica na tradução que seja fundamental no texto de origem. Ao invés de compreender a tradução como um substituto do original, o que nunca será nem poderia ser, é melhor compreendê-la como um par de óculos que alguém nos empresta num apuro. Por mais que as lentes não sejam feitas sob medida para os nossos olhos, e por isso distorçam um pouco o objeto, ainda é melhor do que não enxergar coisa alguma. E manda a educação que se responda à gentileza com sorrisos agradecidos, por mais que a imagem não fique perfeita.
Ainda com essa metáfora dos óculos emprestados, a publicação de uma nova (e boa) tradução também significa o acesso a um novo par de lentes, a uma nova perspectiva sobre o original. E isso tem um potencial muito interessante, caso o tradutor tenha, ele mesmo, um conhecimento profundo do seu objeto. Do contrário, o leitor não terá um relance do original, mas uma glosa, uma variação sobre um tema já existente e que não nos diz tanto do texto traduzido quanto da habilidade literária do tradutor.
Notas
1 Em nota à parte, mais como curiosidade, os “falantes” contemporâneos desse idioma tiveram de inventar formas de designar o helicóptero como autogyros e helicopterum. Essas palavras foram retiradas do projeto Neo-Latin Lexicon, em que se poderá encontrar diversas palavras transpostas para o latim, como carro ou avião. Para mais, veja aqui.
2 Em Os demônios, de Fiódor Dostoiévski, temos: “Он вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чем и сообщил Маврикию Николаевичу.” (Ele saiu da carruagem todo amarelo de raiva e sentia que suas mãos tremiam, o que Mavriki Nikoláievitch lhe comunicou).


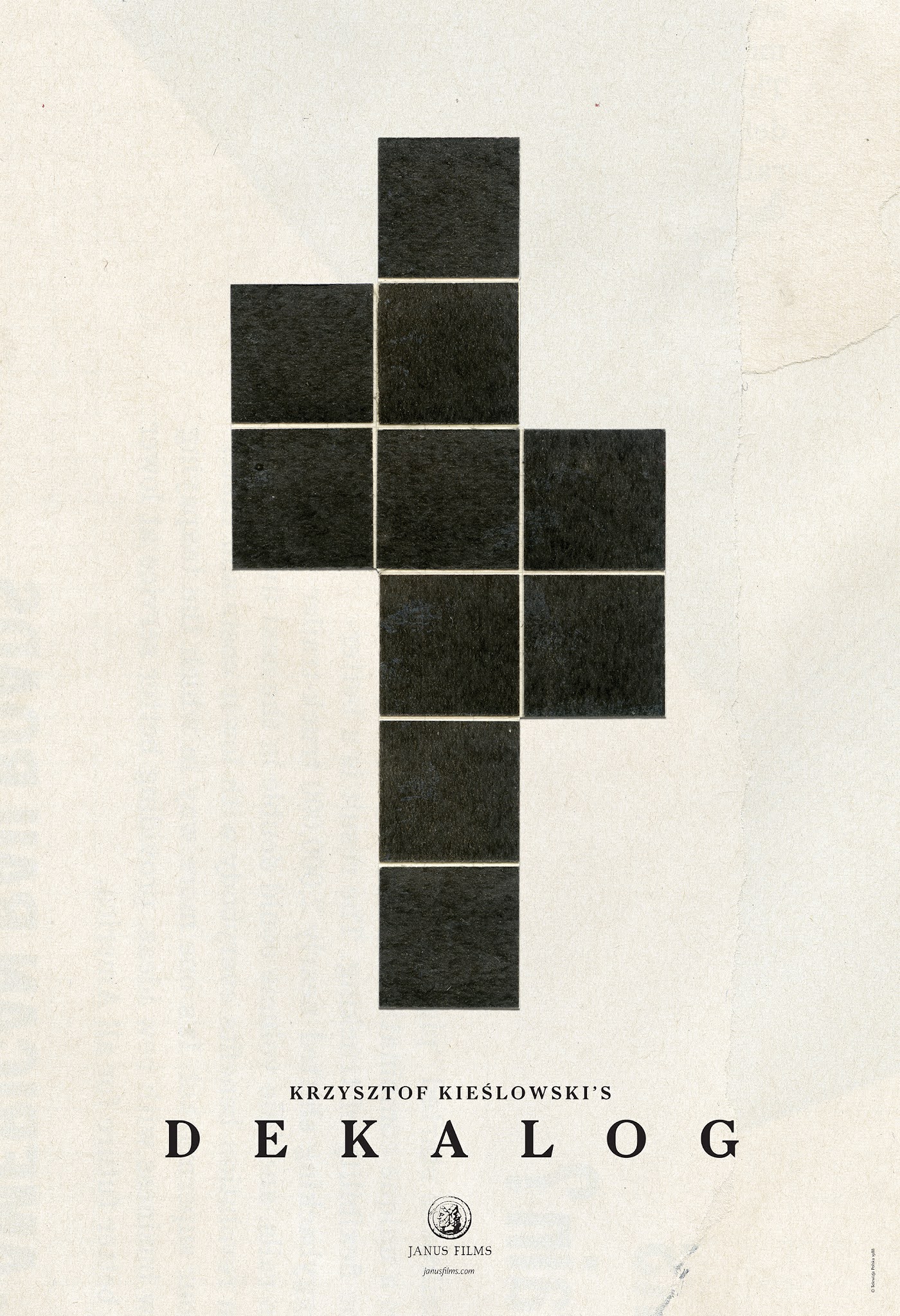
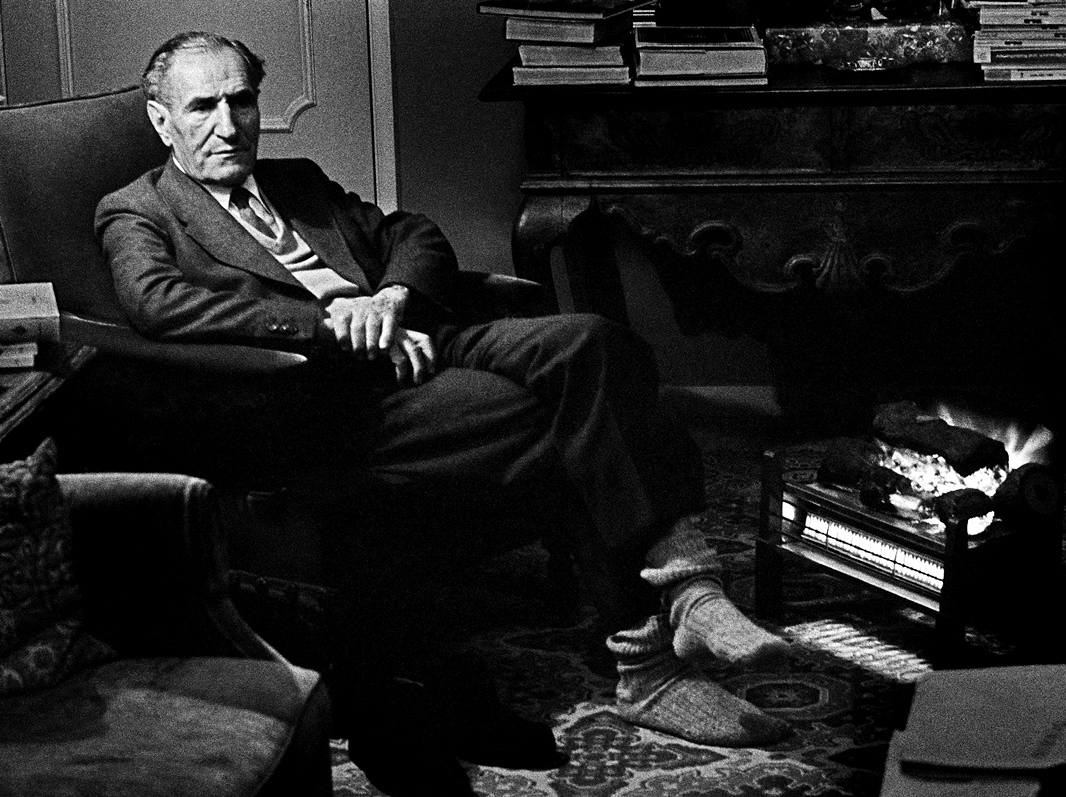


Comentários