Seis poemas de “American Primitive” (1983), de Mary Oliver
Por Pedro Belo Clara
(Seleção e versões)
(Seleção e versões)
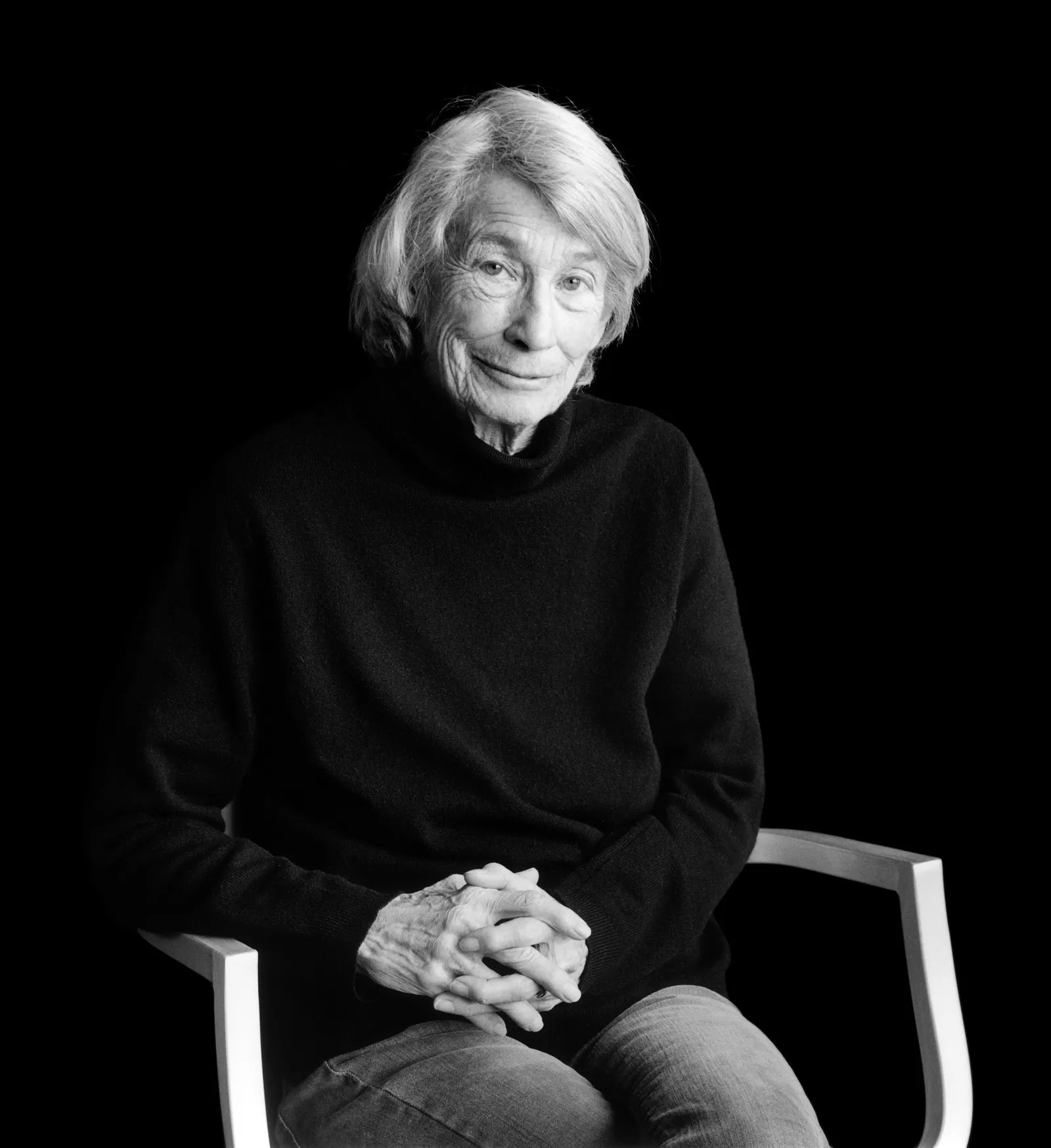 |
| Mary Oliver. Foto: Mariana Cook |
a mesma em que cozinhava a ceia,
ao anoitecer,
nas florestas do Ohio. Vestia uma
serapilheira e caminhava
descalço, os seus pés tortos como raízes. E para onde quer que fosse
as macieiras floriam na sua peugada, tão encantadoras
quanto jovens raparigas.
alguma vez o maltratou, e ele, por sua vez,
tudo honrou, toda a criatura de Deus! nem hesitava,
numa noite chuvosa,
em partilhar o abrigo dum tronco oco, bem junto
a qualquer criatura que lá estivesse: cobras,
talvez um guaxinim ou um urso parecendo uma enorme laje.
cuja casa de seus pais por vezes o recebia em visita:
apenas por uma vez
falou sobre mulheres, e aqueles olhos cinzentos
tornaram-se gelo. “Algumas
são falsas”, sussurrara — e ela sentira
a dor de tais palavras, recordando-a
até tarde em sua vida.
prosperaram, e ele tornou-se
lendário entre as suas gentes,
fazes o que podes se o puderes; seja qual for
ou viver, continuar em frente,
tendo algo com que se importar. Na primavera, no Ohio,
nas florestas que sobraram ainda consegues encontrar
os seus vestígios: manchas
de frio fogo branco.
e a grande espera termina.
cai sobre as ervas.
entre respirações, indolente de tão exausta.
que sua mãe é, mas mais pequena.
como um sonho debaixo das árvores.
cheio de flores rosa e amarelas
Apenas podia olhar.
que alguma vez vi.
o azul do céu tomba sobre mim
e desejo viver de novo toda a minha vida, começar outra vez,
selvagem.
começou a cair
esta manhã, e continuou
o resto do dia, a sua branca
retórica levando-nos ao porquê, como,
de onde tamanha beleza e qual é
o seu sentido; que febre
de mistério! fluindo
pelas janelas, uma energia
que parece nunca se esgotar, nunca ser
nada menos que admirável! E apenas agora,
alta noite,
finalmente termina.
O silêncio
é absoluto,
e os céus ainda amparam
um milhão de velas; em lugar nenhum
se encontram coisas familiares:
estrelas, a lua,
a esperada escuridão
que todas as noites se transforma.
As árvores cintilam como castelos
de fitas, os largos campos
lentamente ardem de luz,
o leito dum riacho passa
carregado de colinas cintilantes;
e embora as questões que todo o dia
nos assaltaram permaneçam —
nem uma só resposta foi encontrada —
caminhando agora ao ar livre,
entrando no silêncio e na luz
debaixo das árvores,
e através dos campos,
tudo parece uma coisa só.
dedos de luz, em forquilha,
chegam lisos do oriente,
sobrevoam-te,
e o que da noite sobrou —
as suas negras cascatas,
a sua dúvida cobarde —
dissolve-se como gravilha
assim que surge o sol
arrastando nuvens
de lã rosa e verde,
incendiando os campos,
transformando os lagos
em pratos de fogo.
As criaturas
são cintilações escuras
que vais descortinando,
uma a uma,
com o ascender da luz —
grandes garças azuis,
patos-carolinos agitando
as suas cristas cintilantes —
e mergulhado até aos joelhos
em rasas águas púrpuras
um veado sacia a sede:
quando regressa,
a água de prata
quebra como seda,
agitando o céu,
e então sabes-te curado
da noite, o teu coração
quer mais, estás pronto
a erguer-te e observar!
a seguir apressadamente
para qualquer lugar!
a acreditar em tudo.
estão a transformar
os seus próprios corpos
em pilares
exalam a encorpada
fragrância da canela
e da realização,
das taboas
estão prestes a rebentar, flutuam
por sobre os ombros azuis
e todo o lago,
não importa qual seja
o seu nome, é
A cada ano,
tudo
o que aprendi
leva-me de volta a isto: os fogos
e o negro rio da perda,
que na outra margem
cujo significado
nenhum de nós alguma vez saberá.
Para viver neste mundo
de fazer três coisas:
amar o efémero;
segurá-lo
que a tua própria vida depende disso;
e, quando chegar a hora de o libertar,
deixá-lo ir.
são exuberantes e prosperam. Também elas
recebem os melhores cuidados,
como tu e tantos outros, anónimos,
nos quartos limpos que ficam por cima desta cidade,
onde dia e noite os médicos continuam
a chegar, onde intricadas máquinas
registam com fria devoção
o murmúrio do sangue,
o lento consertar dos ossos,
o desespero mental.
na luz dum dia de verão,
sentamo-nos debaixo das árvores —
castanheiros, um sicómoro e uma
nogueira-preta cismando,
erguendo-se para além duma sebe de lilases,
tão antiga quanto o edifício de tijolo vermelho
por detrás deles, o hospital
original, construído antes da Guerra Civil.
Sentamo-nos juntas na relva, de mão dada,
enquanto me dizes que te sentes melhor.
aqui vieram, retirados de comboios lentos em camas de lona,
os rubros e hediondos campos de batalha deixados para trás,
ficando todo o verão nos pequenos e abafados quartos,
enquanto os médicos faziam o que podiam, ansiando
instrumentos ainda por criar, remédios ainda por descobrir,
conhecimentos ainda não adivinhados; e quantos morreram
a olhar as folhas das árvores, cegos
ao terrível esforço daqueles que os tentavam manter vivos?
Olho nos teus olhos,
e também cheios de humor, mas nem sempre,
e digo para mim mesma que te sentes melhor,
pois a minha vida sem ti seria
um lugar de árvores secas e quebradas.
Mais tarde, atravessando os corredores até à rua,
volto para atrás e entro num quarto vazio.
Ontem, estava aqui alguém com um rosto ofegante.
Agora a cama foi feita de lavado,
as máquinas foram todas retiradas. O silêncio
permanece, profundo e neutro,
enquanto fico aqui, amando-te.
______
Mary Oliver, uma das autoras mais
populares da poesia norte-americana, nasceu em setembro de 1935 na localidade semi-rural
de Maple Heights, no estado do Ohio. Os primeiros anos vividos nesse lugar de
vincado traço campestre marcariam indelevelmente a sua experiência de vida e,
mais tarde, a sua própria poesia.
Filha dum professor de liceu, seria
de supor uma certa estabilidade a diversos níveis nos primeiros anos de vida.
Porém, a sua infância foi bastante dura. Já na segurança concedida pela
distância que resulta do passar dos anos, Oliver admitiria ter nascido no seio
duma família disfuncional. Como se tal facto, por si só, não apresentasse já
sérios desafios, a poetisa, ainda muito jovem, fora abusada sexualmente. O
execrável acto provocou-lhe pesadelos recorrentes e, tanto quanto se soube, o
crime terá passado impune — como acontecia, com lamentável frequência, naqueles
tempos mais remotos e em comunidades rurais muito fechadas. O trauma
acompanhar-lhe-ia nas décadas seguintes, influenciando até a sua escrita, mas
dum modo positivo, muito distinto do que se poderia esperar num caso assim.
Auxiliou não só na formação do próprio acto criativo como também na sua temática
essencial, pelo menos num primeiro período — só muito mais tarde incorporaria
um cariz realmente pessoal no seu trabalho.
Neste contexto complexo e árduo de
suportar, o mundo além-portas surgiu-lhe, portanto, como um apetecível meio de
fuga. Mary costumava caminhar com grande frequência e ler ao ar livre, passando
grande parte dos seus tempos de criança no exterior, em contacto com todas as
pequenas maravilhas que a natureza lhe poderia oferecer. Ia construindo assim o
tecido da sua própria poesia, sem qualquer surpresa muito mais dirigida ao
mundo natural do que ao denso e confuso mundo do Homem, um emaranhado de
relações desequilibradas, ambições fúteis e fantasias tolas.
Escreve os primeiros poemas com
catorze anos como quem cria um mundo só seu, mas feito de palavras. Terminando
o liceu, entra numa academia de música. Porém, a experiência não seria
duradoura. Em todo o caso, havia já decidido partir, sem reservas, da sua terra
natal.
Aos dezassete anos visita a casa
da poetisa e dramaturga Edna St. Vincent Millay (1892 – 1950), a primeira
mulher a vencer o Pulitzer na categoria de poesia — em 1923, acrescente-se.
Trava conhecimento e ganha a amizade da irmã da poetisa e, juntas, por alguns
anos em diante, iriam organizar o trabalho disperso de Edna, tanto poemas como
cartas. Embora trabalhasse na casa como secretária da irmã, Mary frequentaria,
no tempo devido, duas universidades, sem que tenha concluído qualquer curso.
Numa das várias visitas que
realizou à propriedade da falecida poetisa, Mary conhece Molly Malone Cook, uma
fotógrafa que seria a sua companheira de vida por mais de quarenta anos.
Viveriam juntas no estado de Massachussets, daí que Mary tenha sido
considerada, ainda em vida, e já com obra feita e reconhecida, como uma das
sete maravilhas desse estado norte-americano. Molly tornar-se-ia a sua agente
literária, e somente após a morte desta, em 2005, Mary Oliver decide mudar-se
para a Flórida, onde permaneceria até ao fim dos seus dias.
Mas não nos adiantemos na
cronologia. Retomando a linha do enunciado, diga-se que Mary Oliver decide
publicar o primeiro livro de poemas em 1963, quando contava vinte e oito anos
de idade: No Voyage, and Other Poems. O sucesso é algo moderado, e a poetisa
fica quase uma década até lançar o próximo, de seu nome The River Styx,
Ohio, and Other Poems, em 1972. No entanto, nesse intervalo vence o prémio
concedido pela Sociedade Americana de Poesia, o Shelley Memorial Award, um
galardão em formato de bolsa, atribuído a um poeta vivo reconhecido pelo seu
talento e necessidade financeira.
No início dos anos oitenta, após
vencer um prémio dedicado ao ensino e às artes outorgado pela Fundação
Guggenheim, Mary Oliver começa a leccionar numa universidade privada de
Cleveland, no seu estado natal do Ohio. O primeiro livro da década obtém um
sucesso assinável, sendo claramente a sua primeira e maior conquista. Trata-se
de American Primitive, a obra contemplada nesta edição (embora através
duma brevíssima amostra), um trabalho que seria dignificado com o Prémio
Pulitzer. É uma obra muito americana, diga-se, onde existe o risco do seu
completo sentido e magnificência passarem ao lado dum leitor estrangeiro, mesmo
que mantenha intacta a maravilhosa viagem que propõe. Os seus poemas celebram
paisagens, regiões remotas, pequenos segredos que até os próprios locais desconhecerão,
personalidades de outrora, mas tão vincadamente americanas, com seu espírito
pioneiro e pouco convencional. É um hino ao mundo natural americano, muito mais
que aos habitantes em si. Num sentido lato, uma celebração da vida nas
múltiplas formas que esta assume.
Dois anos depois de conquistar o
prestigiado galardão, Mary Oliver torna-se “Poeta Residente” na Universidade de
Bucknell, na Pensilvânia. Pelos anos vindouros seguirá a via do ensino e ainda
arrecadará mais dois prémios de destaque (e isto para apenas nomear alguns),
concedidos a obras suas: em 1990, o Prémio PEN de New England, pela obra House
of Light e, em 1992, o National Book Award pela colectânea New and
Selected Poems. A década de noventa trará igualmente à luz dos dias uma
nova faceta da poetisa: a de ensaísta. Vários trabalhos seus nesta área foram
compilados nas edições de 1996, 1998 e 2001 da antologia Best American
Essays.
Como antes já terá sido possível
constatar, grande parte da obra poética de Mary Oliver incide sobre o mundo
natural, ao invés de contemplar o Homem ou isolar-se nas suas experiências
pessoais, aprofundando sentimentos e pensamentos. O impulso da escrita nasceu
em si como uma necessidade de fuga e refúgio dos negrumes que assombravam a
infância, pelo que Mary foi levada, mesmo inconscientemente, a uma dimensão
mais profunda de ser. Com isto apurou a sua visão, o que se traduz num trabalho
que, sendo simples e tantas vezes coloquial, embora elegante e eloquente, é
dotado de grande sensibilidade, sempre com enorme apreço pelos detalhes, capaz
de extrair – dádiva suprema — o mais significativo conselho da ocorrência mais
banal. Dizemos, sem hesitação, que possui a profundidade das coisas simples —
daí que tenha o condão de cintilar numa singeleza ímpar.
Embora este registo nunca tenha
ficado realmente diluído, é verdade que o passar dos anos trouxe o foco mais
para o lado pessoal. Certos poemas poderão parecer desabafos, esboços algo
diarísticos, mas nunca se perde um teor de diálogo com o leitor, que decorre
num ambiente íntimo de leveza e liberdade. Mary Oliver, figura reservada e
pouco dada a grandes aparições públicas, é uma poetisa luminosa que nos recorda
o prazer das pequenas coisas, levando com isto ao despertar, no coração do seu
leitor mais atento, dum apelo por uma existência mais autêntica, mais em
sintonia com a origem de todos nós: a Terra donde viemos e à qual
invariavelmente retornaremos.
Não causa dissonância à nossa
sensibilidade saber que os seus poetas favoritos eram autores do calibre de
Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson ou Henry David Thoreau, pois as suas
influências são irrefutáveis. A própria também admitiu ser uma grande
apreciadora dos poetas místicos Rumi e Hafiz, assim como dos românticos John
Keats e Shelley (teria, inclusivamente, um cão chamado Percy, o nome próprio,
como se sabe, deste último). Parece-nos que soube sempre retirar o melhor de
cada um e aplicá-lo num modo muito próprio na sua expressão poética, criando um
traço novo e pessoal, já distante das propostas deixadas pelo trabalho daqueles
que mais admirou.
Toda a sua poesia, com poucos
desvios, é atravessada por uma linha fremente de deslumbramento, a graça maior
de quem consegue descobrir algo de novo a cada novo dia, mesmo que esteja no
mesmo lugar do dia anterior. A tremenda explosão sentida por quem sabe o mundo
renascido após o render da noite vibra, serena, por detrás de cada verso seu.
Ainda que, sendo humana como todos nós, e com um passado pleno de memórias
obscuras, Mary Oliver abra o espaço devido às maiores dúvidas da Humanidade, se
bem que diante de tanta maravilha retratada e partilhada as mesmas acabem por
perder o seu sentido e a angústia da não resolução. Indo um pouco mais longe,
chegamos àquele que talvez seja o maior aspecto plantado em si pelas leituras
dos poetas místicos atrás referidos: o diluir de fronteiras entre observador e
coisa observada, nascendo assim uma poesia de integração que logo ascende a um
plano universal, ainda para além do estado de irmã-árvore e irmão-rio, mas de
certeza plena e pura em “sou a árvore e o rio, o rio e a árvore são o que sou”.
Em 2012, Mary Oliver ultrapassou
um difícil diagnóstico de cancro no pulmão, permitindo ainda a edição de mais
quadro volumes, datando de 2015 o seu último livro de originais: Felicity.
Em 2017, lança a amplamente divulgada e aclamada colectânea Devotions,
tendo falecido dois anos depois, em janeiro de 2019, vítima dum linfoma. Tinha
então oitenta e três anos de idade.
“Quando tudo terminar, quero poder
dizer: toda a minha vida
fui uma noiva casada com o
deslumbramento.
Eu era o esposo, levando o mundo nos
meus braços.”
“When Death Comes” (em excerto), New and Selected Poems (1992)






Comentários