Doutor Fausto, de Thomas Mann
Por Rafael Kafka
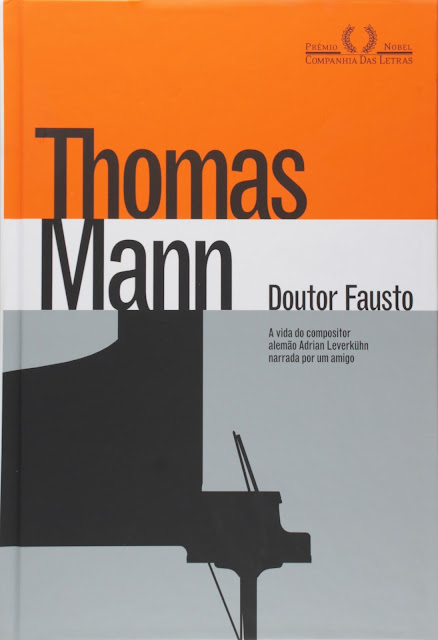
Thomas Mann é dono de uma obra ambiciosa de todos
os pontos de vista, apelando para uma escrita que exige demais do leitor quando
diante das densas histórias contadas pelo escritor alemão. Em seu texto, há a
marca da erudição de alguém que se propôs a conhecer as mais variadas áreas do
saber e as diversas correntes ideológicas de seu tempo, colocando-as para
embates homéricos do ponto de vista dialógico no decorrer das cenas de seus
romances. Há também em sua escrita o desejo de não falar apenas de uma pessoa.
Mann, como os antigos autores de epopeia, escreve sobre coletividades.
Porém, não há
mais em seus romances o universo harmônico e o convite ao desbravamento que
outrora havia nos relatos heroicos de seres como Homero. Thomas Mann é autor de
romances e o romance é uma arte feita em tempos modernos e desconstruídos, nos
quais o mundo não é mais um espaço harmônico e cheio de esperança. O mundo se
mostra um espaço de individualidade perdida, de absurdo, de discurso sobre si
mesmo em procura de uma unidade de ser inalcançável.
No sanatório que
abriga a história de A montanha mágica isso
se evidencia demais. O enredo é algo muito insólito, quase que um não-enredo,
enquanto ao nosso redor vemos uma série de discursos se confrontando, expondo a
forma como veem o mundo e como se veem. Ao mesmo tempo, esses seres parecem
entender o que é visto pelos outros, mas não aceitam tais verdades. O mundo
polifônico é o mundo de seres que buscam desesperadamente uma fórmula para o
entendimento de uma realidade absurda, mas não a acham. Cada ser carnavalizado
e estranho daquele sanatório representa um discurso dentro da desordem que é a
Europa no começo do século passado.
Os destinos
individuais em si não importam tanto, pois o coletivo é que determina o rumo de
tais destinos, ou antes sua falta de rumo. Vemos em Mann o ser humano
angustiado pela liberdade de ser e pela indefinição desse mesmo ser perdido em
seu desejo por um rumo definido. Tal sentimento de perdição está condicionado
ao modo como as coletividades interagem entre si, também desesperadas em
descobrir o que elas são em sua essência. Sobre isso fala Doutor Fausto.
Não sei se por
ter lido os dois livros praticamente em sequência, mas A montanha mágica e este último se combinam demais dentro de minha
mente no retrato panorâmico do caos identitário que até hoje impera em nossa
cultura. A diferença sempre me parece ficar por conta do atrevimento temporal
de Mann no romance de Hans Cartorp, exibindo como a temporalidade é o modo como
sentimos a realidade, como lidamos com ela no sentido de modificá-la de acordo
com nosso desejo. A história de Adrian Leverkuhn foca mais diretamente na
questão da identidade, seja no sentido individual de um ser cujo projeto de
vida é a construção de uma grande obra, seja no plano coletivo de uma nação
cujo sonho de soberania e de encontro consigo mesma leva ao nazismo.
Não é mais em um
sanatório que se passa o enredo, que dessa vez não tem mais a aparência de um
enredo e sim de um quebra-cabeça cujas peças se encaixam de forma simétrica nos
desejos de Adrian em se deparar com o mesmo ninho de sua vida juvenil já na
fase adulta. O enredo se passa em dois tempos distintos, com a narrativa em
contraponto de dois caminhos no rumo da ruína.
A história é
narrada por Serenus Zeitblom, amigo de Adrian, que demonstra profundo amor pelo
amigo, um amor quase passional. O recurso criado por Thomas Mann cria um
obstáculo natural que se mostra bastante interessante do ponto de vista da
recepção da história. Sem o recurso do narrador onisciente, não percebemos como
é o interior de Adrian e vemos dele apenas traços externos, como o constante
riso zombeteiro, as crises de enxaqueca e o gosto pela teologia que depois vira
amor pela música. Destarte, a figura de Adrian se mostra opaca e resistente a
um olhar mais arguto ao seu ser, o que talvez reforce o modo complacente com o
qual Serenus relata as desventuras do amigo.
A impressão que
fica em leitores como eu, apaixonados por essa busca essencial e ontológica por
algo que não existe – a definição perfeita de um ser que busca ser seu próprio
sentido – é que Adrian se volta para a teologia com o intuito de procurar uma
transcendência rumo a algo maior do que ele, no qual pudesse se perder. Depois,
descobre ser essa possibilidade a música. De certa forma, Adrian recupera o
velho mito do artista cujo ápice existencial é a produção de sua obra, na qual
ele se imortalizará.
É esse o motivo
para a retomada do velho mito fáustico, que já fora bem explorado em vozes como
Goethe e Dostoiévski. Por sinal, o diabo de Mann lembra demais o diabo que
surge para Ivan Karamazov, mas enquanto aquele servia de revelador das
intenções mais obscuras de Ivan para si mesmo, o que surge para Adrian
oferece-lhe a ilusão da plenitude, de se ver completo em sua obra, de
ultrapassar todos os limites humanamente imaginados em troca de sua alma. A
cena é muito bem construída de modo a nos levar a pensar, assim como em Os irmãos Karamazov, se realmente o
diabo surgiu na história ou se ele se revela como um duplo, como um ser o qual
revela ao outro o que este é mas ignora ou finge ignorar que é.
De qualquer modo,
Mann se utiliza da cronologia das duas grandes guerras para mostrar paralelos
entre o tempo de outrora e o tempo de agora e a existência do amigo e a existência
alemã. O diabo alemão foi o nazismo com seu desejo de soberania, com sua
tentativa de definir com perfeição o que é o povo alemão e extirpar do solo
germânico o mal da exterioridade. A derrocada alemã é a derrocada de Adrian e
os dois processos de pacto, os quais são culminados de forma maravilhosa no
último parágrafo do livro, são o processo de tentativa de encontro consigo
mesmo e de um profundo desespero com os olhos presos a esse objetivo.
Se em A montanha mágica Mann parou o tempo em
um microcosmo cheio de vida, aqui ele explora o tempo como algo cíclico, como
algo cheio de idas e vindas de fatos os quais devem ser entendidos em sua raiz
para, quem sabe, não serem mais vividos pela espécie humana. Sua obra se torna
então mais ambiciosa, pois ele consegue aliar a polifonia herdada de um autor
como Dostoiévski com um interesse ideológico claro, o qual porém não subjuga
personagens a sua intenção central. O narrador de Thomas Mann é bastante
participativo, não assumindo o tom protocolar do narrador do grande romancista
polifônico russo, como diria Bakhtin, e esse fato acaba servindo como
gerenciador de sentidos para os leitores que se aventurem nessa obra.
Isso faz com que
Mann, creio já ter dito em outro momento, se revele ao mesmo tempo um grande
escritor e um grande escrevente humanista, denunciando tudo aquilo que pode
colocar a humanidade como espécie e sentimento de existência a perder. Diante
de nós, há longos e intensos debates sobre verdades acerca do mundo, da arte e
de outros temas, ao mesmo tempo que o narrador em alguns pontos cruciais surge
e diz qual é a temática central de tudo aquilo, o nó que une aquelas situações.
Em A montanha mágica é o tempo
vivido, é o marasmo de um temporalidade prestes a se anular, numa vida
horizontal que é o puro sentimento de fuga e de isolamento diante de um mundo
em greve; Doutor Fausto são as raízes
do totalitarismo, que não estão necessariamente ligadas ao ódio por outras
etnias, e sim a esse mal-estar da pós-modernidade que nos leva querer nos entender
anulando o outro se for possível.
Thomas Mann é um
escritor de coletividades por ver nelas os reflexos das individualidades que
definem seus rumos. Coletivo e individualidade para Mann se ligam profundamente
e estão o tempo todo em diálogo e por isso sua obra é uma convergência muito
interessante do discurso romanesco como exploração das idiossincrasias humanas
e do discurso épico como exploração dos caminhos traçados pelas coletividades
em sua busca por harmonia. Mesmo escrito há várias décadas, Doutor Fausto é um grande romance por
mostrar como tanto no âmbito individual de nossas mentes quanto no foro social
de nossas vidas somos capazes de vender a alma ao diabo – em um delírio ou não
– desde que em troca venha um pouco de harmonia e de trégua diante de toda a
angústia que carrega o ato de viver e de descobrir.
Ligações a esta post:



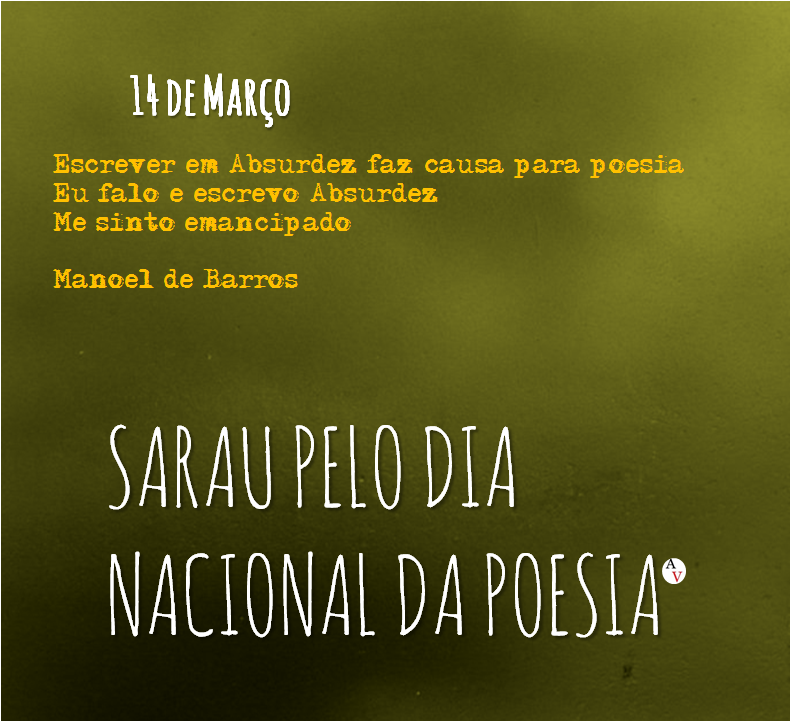


Comentários