As divagações existenciais de um português pós-moderno. Análise crítica da obra “As intermitências da morte”, de José Saramago
Por Lucas Pinheiro
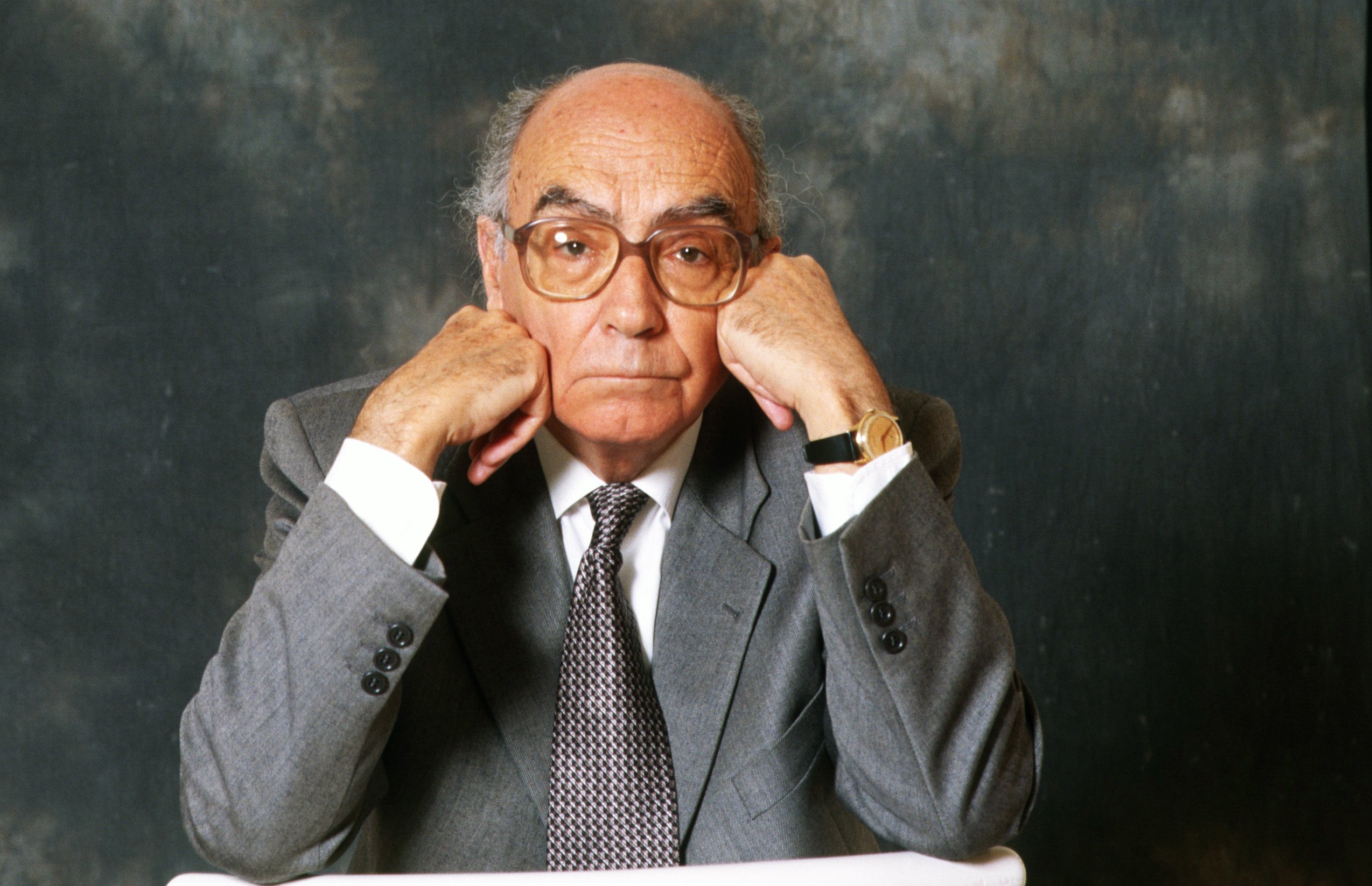 |
| José Saramago. Foto: Leonardo Cendamo. |
Seria simples vir aqui e comentar sobre as
características técnicas e estilísticas de Saramago, mas você, leitor
instruído, com certeza já sabe, e entende, que ele foi um autor de apostas
ousadas em sua literatura. Quem diabos deixaria toda uma população cega em um
de seus romances? Apenas um autor demiurgo de veemente agilidade, é claro. Ora,
primeiro ganhador português do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, de
modo irreverente, neste livro que resenho, propõe reflexões sobre a morte e
outras instâncias da vida humana, sendo esta a protagonista absoluta da narrativa,
enquanto constrói críticas à sociedade, revelando sua hipocrisia, sem intermitências,
à luz da morte — desafiando a própria mortalidade enquanto subverte,
ironicamente, o tema desgastado da imortalidade.
Eis que, no primeiro dia do ano, em um país
sem nome, a morte resolve tirar férias e, inicialmente, isso é motivo de festa!
Em pouco tempo, entretanto, sua ausência desencadeia uma calamidade que, em
condições romanescas, conduz o leitor à real imprescindibilidade da morte para a
preservação da vida. Mesclando causos absurdos, como as pessoas envelhecendo e
se deteriorando, até os devotos ao clero, que, preocupando-se com o fato de a vida
após a morte se tornar uma questão sem sentido, enxergam, portanto, que sua
doutrina também o é. Saramago perfaz uma dupla realidade encenada por milhões
de pessoas que, felizes pelo desaparecimento da morte, percebem-se
paradoxalmente aliviadas quando ela volta a ter sua presença, pois, se não
começarem a morrer de novo, não terão futuro.
O autor enseja um prisma panorâmico dos
acontecimentos, das instituições religiosas, do Estado e do capitalismo, cada um
atuando, é claro, em defesa de seus interesses; entretanto, chega a ser cômico
que, como uma forma de compensação, um setor econômico clandestino surja, possibilitando
que pessoas sejam levadas para além da fronteira, onde ainda há morte,
restaurando em alguma medida a velha ordem natural da comédia humana.
Quando sua trama começa a perder força, ainda
nem mesmo na metade da obra, Saramago resolve agitar as coisas com uma
misteriosa carta, de autoria da própria morte, anunciando que seu pequeno experimento,
e seus consequentes resultados deploráveis, terminará à meia-noite.
A personificação da morte se torna, assim, a
primeira personagem explorada, de fato, na narrativa. Interessante que, sendo
uma morte com “m” minúsculo, esta não é, ou ao menos não passa a ideia de ser,
uma representação de certa nobreza, nem de uma figura ilustre, de realidade invisível,
cega, e implacável. Ela é, na verdade, uma morte desajeitada e sozinha, que
reconhece o seu erro aos interlocutores como se fosse parte dele, senão parte
dos próprios interlocutores — uma alguém, portanto. Uma alguém de esqueleto
cansado embrulhado em trapos de lençol, habitando um quarto frio em que a
mobília se restringe a uma cadeira e uma mesa, sua foice enferrujada e algumas
dezenas de papéis avulsos. No entanto, demonstrando consciência de si, e para compensar
sua crueldade furtiva, ela começa a enviar cartas de aviso, com uma semana de
antecedência, para que seus remetentes comecem a se preparar para sua iminente
chegada. Porém, a morte, mais uma vez, comete um erro que desencadeia uma
bagunça sem igual, incitando o pânico à luz de sua tentativa de originalidade,
enquanto a população desperdiça sua semana restante como sempre fizeram, ou,
então, buscam alívio na libertinagem. Todavia, as coisas começam a ficar
realmente interessantes quando uma carta passa a ser devolvida à remetente continuamente,
e ela percebe, portanto, que um certo violoncelista, de algum modo, a enganou;
despistando-a.

Esta situação, à vista do narrador, é um escândalo
sem precedentes: alguém que deveria estar morto há dois dias ainda estava vivo!
E isso não era o pior. O tal violoncelista, que estava destinado, desde o seu
nascimento, a morrer após quarenta e nove verões, acabara de completar cinquenta
anos, desrespeitando, assim, a morte como espectadora de seu destino, que já aplaudia
em pé, por ter à sua frente as cortinas da tragédia humana se fechando no palco
do tempo. Sacada genial, admito.
O violoncelista é, também, um solitário. Vive
sozinho com seu cachorro e sua música, alheio às atenções e, principalmente, às
intenções da morte. A partir disso, decerto constrangida, a morte — e Saramago,
para além do caos que é o seu estilo —, brinca com o leitor, desafiando-o.
Determinada a atingir o objetivo que é intrínseco a sua natureza, a morte, então,
assume a forma de uma mulher, com o prévio intuito de conseguir chegar perto o suficiente
do violoncelista e, assim, reivindicá-lo.
Os dois iniciam, por consequência, um flerte
mesclado com mau presságio. E aqui reservo espaço para dizer que Saramago,
quando constrói seus narradores, tende a assumir o papel de manipulador de
marionetes, mas não de causa e consequência. Muitas vezes abrindo as cortinas
do palco para os espectadores — aqui, leitores — refletirem sobre os elementos que
se encontram às ocultas, demasiado parecido com Nabokov que, também, traz sofisticadas
ideias lúdicas que deixam matéria escura suficiente para que mentes curiosas possam
devanear e mergulhar nelas depois. Segredos ainda debaixo de sombras escondidas
nas entrelinhas e, apesar da esperteza e profundidade dos dois autores em peças
de seus quebra-cabeças narrativos já trazidas à tona, não se pode deixar de
pensar que algo está faltando, visto que alguns elementos recorrentes em suas obras
parecem implorar por atenção e, por vezes, acabam ignorados ou emudecidos.
Neste romance do português, espelhando o que decerto faria o russo, o distanciamento
torna difícil adivinhar para onde o desejo crescente do violoncelista o levará:
atração, obsessão ou destruição. E é a partir desse trabalho com a perspectiva,
com a desordem própria de estar no mundo, com o desespero, que Saramago se torna
também possível de ser visto sob um aspecto demasiado filosófico e, em
específico, existencialista.
A morte tem o poder de ceifar o violoncelista,
e ainda assim ela vacila. Claro, o casal acaba cometendo o maior erro da vida
humana: apaixonam-se e, por meio de seus erros e de sua vulnerabilidade, a
morte encontra um caminho de fuga de sua própria natureza, enquanto o
violoncelista, em meio à rotina lamuriante, encontra reservas do que lhe torna
humano: os sentimentos.
A obra de Saramago parte de uma incrível
situação fisicamente impossível e, em seguida, com lógica abstrata e humor
ímpar, passa a desenvolver em detalhes o que se segue. Isso torna a leitura desafiadora,
permitindo o leitor a prestar-se a acompanhar a lógica, concedendo a necessária
descrença, enquanto o deleita com a magnificência e a ironia de sua escrita.
Mas é aí que o brilhantismo da escrita do português cai em problemas, pois
acaba tornando-se histórias intimamente relacionadas ao “eu”, de modo que o
pós-moderno bate à porta mas não chega a entrar, levando sempre para um desfecho
extraordinariamente insatisfatório, levantando a questão do que é, ou o que acaba
se tornando, a escrita de Saramago, visto que uma vez que nos deparamos com alguma
situação, parágrafo por parágrafo, ideia por ideia, o abuso da linguagem é
certeiro e magnífico, como Nabokov também o faz. O português, porém, vacila
quando o todo de sua narrativa é explorado, deixando de resolver seus próprios
desafios — neste caso, ao tangenciar o perigoso limite entre vida e morte, se é
que tal limite existe de fato — de maneira verossímil, ou, neste caso, de qualquer
maneira. E isso é um ciclo sem fim do autor português, decerto genial, mas que,
por exemplo, ao tratar da morte, não consegue senão uma matiz de tudo e nada.
______
As intermitências da morte, José Saramago
Companhia das Letras, 208p.
Ligações a esta post:






Comentários